Tractatus Logico-Philosophicus (português)
Ludwig Wittgenstein
Tractatus Logico-Philosophicus (português)
Traduzido por José Arthur Giannotti
Esta edição digital é baseada na ediçao brasileira: L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, traduzido por José Arthur Giannotti, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1968. A tradução é baseada no texto alemão da edição inglesa bilíngue: L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Routledge & Kegan Paul, 1961. O Projeto Ludwig Wittgenstein é grato a Davi Bulgarelli por sua ajuda na revisão da edição digital. O texto da língua original está em domínio público no seu país de origem e em outros países e áreas onde o período de proteção dos direitos autorais é igual à vida do autor mais 70 anos ou menos. Com a gentil permissão do Prof. Marco Garaude Giannotti, esta tradução é republicada no website do Projeto Ludwig Wittgenstein sob os termos da licença Creative Commons Atribuição.
Introdução
A leitura do Tractatus, apesar das enormes dificuldades que oferece, fecha-se sôbre si mesma; se o que pode ser expresso o pode ser com clareza, como nos adverte seu autor, qualquer explicação exterior ao texto penetra nos domínios do que enfim deve ser calado. Sabemos que o livro não é um manual; dirige-se, sem intermediários, a um público familiarizado com os principais problemas da lógica moderna. Sendo sua publicação recente (1921), não sentimos diante dêle aquela distância peculiar aos textos clássicos que demanda uma aproximação árdua e progressiva. Nessas condições, como juntar-lhe uma introdução feita nos moldes tradicionais, revelando as articulações mestras de seu pensamento? Tôda análise seria redundante, correndo o risco de encaminhar o leitor numa direção que, mesmo correta, não seria a única.
É sintomático o que aconteceu com a apresentação feita por Russell. Êste anuíra em escrever a introdução que a Editôra Reclam exigia para a publicação do livro. Quando, porém, Wittgenstein recebe os originais, não pode esconder sua decepção. Numa carta de 4 de abril de 1920, escreve: “Muito obrigado por seu manuscrito. Não estou muitas e muitas vêzes de acôrdo com êle, tanto nos trechos em que você me critica como naqueles em que pretende meramente tornar claras minhas opiniões. Mas não faz mal. O futuro nos julgará. Ou não — e se êle se calar, já será um julgamento”. Na carta posterior (6 de maio) Wittgenstein, entretanto, vai mais longe: “Você ficará zangado comigo quando lhe contar o seguinte: sua introdução não será impressa e provàvelmente por isso mesmo meu livro também não. Quando me defrontei com a tradução alemã de sua introdução, não pude decidir-me a publicá-la com meu trabalho. A finura de seu estilo inglês perdera-se — evidentemente — na tradução, restando apenas superficialidade e malentendido. Enviei então o trabalho e sua introdução para a Reclam, escrevendo-lhes que não queria a introdução impressa, já que apenas servia de orientação a respeito de meu trabalho. É, pois, altamente provável que por isso a Reclam não o aceite (embora até agora não tenha recebido resposta alguma)”[I 1]. Sòmente um ano depois é que o Tractatus aparece, na revista de Ostwald, Anais de filosofia natural, publicada em Leipzig pela Editôra Unesma G.M.B.H. No entanto, a tradução inglêsa, publicada no ano seguinte, traz uma introdução de Bertrand Russell, datada de maio de 1922. É difícil acreditar que o texto seja o mesmo. Sabemos apenas que Wittgenstein, já resvalando para o misticismo, desinteressara-se por seu trabalho, não revendo com o devido cuidado o texto inglês, ao contrário do que afirma o tradutor.
Convém lembrar, todavia, que a formulação de grande parte dos problemas colocados pelo Tractatus depende de uma situação histórica que as últimas descobertas da lógica matemática alteram sobremaneira. Devemos em particular ter presente que Wittgenstein trabalhou no ambiente de euforia que se seguiu à publicação dos Principia de Russell e Whitehead, muito antes, portanto, do impacto provocado pela obra de Gödel, que teve, como um de seus efeitos, a virtude de isolar o cálculo proposicional dos outros cálculos matemáticos. Sendo decidível e completo, não possui uma estruturação suficientemente rica, capaz de dar conta da complexidade, por exemplo, do sistema da aritmética ou da geometria. Ora, Wittgenstein elege o cálculo das proposições como padrão de inteligibilidade de todos os sistemas formais, postulando, em conseqüência, uma unidade entre êles que mais tarde se revelou ilusória. Além do mais, essa unidade lhe permite conceber a lógica como um sistema total, ao contrário da dispersão dos sistemas particulares predominantes na lógica contemporânea. É evidente que nessas condições os problemas da semântica, os problemas que dizem respeito às relações do sistema com o mundo, haveriam de ser propostos de uma forma muito mais ambiciosa do que hoje estamos acostumados a propor. Daí a riqueza do Tractatus, daí em compensação seu dogmatismo, que por certo desnorteará aquêle que não o abordar de uma perspectiva crítica que só a história pode oferecer. Considerando êsse provável estranhamento é que fomos levados a preparar a longa introdução que se segue. Correndo o risco de impacientar o leitor com um texto relativamente grande, pretendemos apenas reconstruir os principais problemas semânticos tais como Wittgenstein os encontrou. Com a publicação dos inéditos anteriores ao Tractatus, estamos, ademais, em condições de traçar sua evolução desde o ponto de partida, com Frege e Russell, até o momento em que se formulam suas principais teses. Retornando, pois, às origens, esboçando uma genealogia de seus conceitos básicos, nada mais pretendemos do que familiarizar o leitor com certas questões lógicas que o formalismo moderno tem em geral negligenciado. Conduzido até a fronteira dêsse livro, o leitor deverá, sòzinho e contando com seus próprios recursos, penetrar então num terreno em que impera, absoluta, a palavra de Wittgenstein.
I — As inovações de Frege.
A obra de Gottlob Frege ocupa sem dúvida um dos pontos mais altos na história da lógica, podendo apenas ser comparada com a de Aristóteles ou a de Leibniz; mas, apesar disso, ou talvez por isso mesmo, sua penetração foi lenta e penosa. Basta lembrar que sòmente hoje é que se publica um volume reunindo seus artigos dispersos em revistas alemãs, de acesso dificílimo. Seu primeiro livro é de 1879 — Begriffschrift: Eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Ideografia: uma linguagem formal do pensamento puro imitada da linguagem da aritmética) — que não teve a mínima repercussão. Em 1884 publica Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl (Fundamentos da aritmética: uma investigação lógico-matemática sôbre o conceito de número)[I 2]. Depois de uma intensa participação nas revistas da época[I 3], publica em 1893 sua obra máxima em dois volumes: Grundgesetze der Arithmetik (Princípios da aritmética).
Propôs-se como principal tarefa formalizar a aritmética, a fim de estabelecer uma passagem contínua entre a lógica e a matemática. Mas, para isso foi preciso tanto encontrar uma definição lógica dos principais conceitos aritméticos, em particular o de número, como refundir os conceitos lógicos fundamentais. Tarefa árdua, que implicava uma reforma geral da visão da lógica e da matemática.
Um de seus pontos de partida consistiu em precisar e estender o conceito matemático de função. Segundo as antigas definições, uma função de x seria uma expressão matemática contendo x, uma fórmula em que a letra x aparecesse. É evidente a insuficiência de uma definição de tal ordem, que não distingue entre forma e conteúdo, sinal e coisa assinalada, etc. Frege, ao contrário, visa, de um lado à conexão (Zusammengehörigkeit) que, por exemplo, a função numérica estabelece entre uma série de números e, de outro, à necessidade de a expressão vir a ser completada, a exigência de ser justaposta a outros têrmos para poder significar alguma coisa. Por isso, “a expressão de uma função carece de complemento (ergänzungsbedürftig), sendo insatisfeita (ungesättigt)”[I 4].
Convém distinguir na função o argumento, que não pertence a ela mas lhe advém para formar um todo, o lugar do argumento e o valor que obtém quando a variável é substituída por uma constante. Na história da matemática, diz Frege, assistimos a uma ampliação cada vez maior dos tipos possíveis de argumento, bastando lembrar na aritmética a introdução de funções com números complexos e, ademais, algumas tentativas de empregar a noção de função operando entre palavras. A reforma de Frege vai mais longe: faz com que expressões da forma ξ2 = 4 e ξ > 2, cujos valôres, por exemplo, variam de 0 a 3, possam ser consideradas funções. De fato, essas expressões se apresentam de modo incompleto, possuindo sentido tão-sòmente quando um dos números possíveis vier a ocupar o lugar do argumento. E feita a substituição, obteremos os seguintes resultados: 02 = 4, 12 = 4, 22 = 4, 32 = 4, e 0 > 2, 1 > 2, 2 > 2, 3 > 2; expressões que, em geral, são falsas, a não ser duas exceções, uma para cada série. Pois bem, a grande novidade de Frege é pensar ξ2 = 4 e ξ > 0 como funções cujos valôres sejam, em lugar de números, os valôres verdadeiro ou falso. Dêsse modo, as expressões 22 = 4 e 3 > 2 denotariam o verdadeiro, enquanto as outras denotariam o falso. Com isto se introduz a noção de valor de verdade, uma das maiores conquistas do pensamento lógico contemporâneo.
Como distinguir, porém, 22 = 4 e 3 > 2, se ambas possuem a mesma denotação (Bedeutung) verdadeira? Graças a seu sentido (Sinn), à forma de comunicar alguma coisa independentemente de seus valôres de verdade, isto é, da relação com o valor falso ou o valor verdadeiro. De sorte que Frege é conduzido a distinguir nitidamente a denotação de um nome, isto é, o objeto significado, da maneira pela qual êste objeto é lògicamente apresentado. Daí poder dizer: o nome exprime (ausdrückt) seu sentido e denota (bedeutet) sua denotação.
Uma teoria da função não depende da exata distinção entre sentido e denotação; tanto é assim que êsses conceitos sòmente aparecem nas últimas obras de Frege, quando a teoria da função já estava terminada; o mesmo não acontece, todavia, com o estudo do nome, das expressões que podem aparecer como argumento das funções. Vejamos como se dá essa ligação.
A expressão 2x é ambígua, na medida em que designa vários números conforme forem dados valôres a x. É maior, porém, a ambigüidade de expressões do tipo 2x = y, sobretudo porque fazem intervir a complicada noção de igualdade. No Begriffschrift Frege a interpreta como sinal a unir símbolos diferentes postos pelo mesmo objeto. Mas a introdução da noção de sentido, leva-o a reformular esta primeira teoria insuficiente, passando a igualdade a representar a ligação de dois sentidos diferentes que se reportam ao mesmo objeto denotado. Podemos dizer que “Scott” equivale a “o autor de Waverley” porque êstes dois sentidos diferentes se reportam ao mesmo objeto.
Nem todos os nomes, porém, possuem denotação. “O corpo mais distante da terra”, “Bucéfalo”, “Aquiles” são palavras inteligíveis a que, entretanto, não corresponde objeto algum. A primeira torna-se significante graças à composição de nomes denotativos, mas a própria composição não deve eo ipso possuir denotação própria. As outras são nomes de figuras lendárias, cujo sentido se apreende consultando os poetas ou um bom dicionário. Além do mais, há uma certa imbricação entre sentido e denotação: quando menciono “o sentido da expressão ‘o autor de Waverley’” transformei “o autor de Waverley” na denotação da frase inteira. Isto quer dizer que existem denotações oblíquas (ungeraden) que anteriormente foram sentidos.
A indeterminação do sentido e da denotação é comum nas línguas correntes; a linguagem artificial, porém, deve evitá-la, cada nome havendo de possuir sentido e denotação precisos. Ambas as línguas, contudo, apresentam a mesma estrutura ternária; primeiro, a camada material dos sinais falados ou escritos; segundo, o véu dos sentidos e, finalmente, o conjunto de objetos denotados. Concepção de extrema importância por causa de seu alcance teórico e de suas repercussões históricas. Assim é que está na base da teoria fenomenológica da linguagem, a única doutrina que atualmente tem condições de resistir à avalanche da semiótica behaviorista que, ao contrário das teses de Frege e de Husserl, distingue na linguagem apenas a camada de sinais e os objetos denotados. O ato da palavra vincular-se-ia diretamente às coisas sem necessitar da camada ideal das significações, reduzindo-se, portanto, ao esquema do reflexo condicionado.
A comparação das expressões de tipo 2x e 2x = y revela ainda outra distinção fundamental, agora no que respeita a seus valôres: os da primeira são números e os da segunda são valôres de verdade. Dado isso, é possível a definição lógica do conceito que o identifica à função cujos valôres são sempre valôres de verdade. Dêsse modo, o conceito apresenta uma estrutura incompleta, nomeadamente predicativa, a tal ponto que tudo o que não possuir tal caráter é transformado em objeto. Entre os conceitos e os nomes surge, pois, uma clivagem que separa, de um lado, as expressões completas (os nomes na sua acepção mais ampla), a que corresponde tôda sorte de objetividade, e de outro, as expressões incompletadas que dizem respeito a objetos em geral. É de notar que essa clivagem é lògicamente definida e substitui a divisão aristotélica entre sujeito e predicado, considerada por Frege de natureza psicológica[I 5]: tôda expressão incompleta, graças à transformação quer do sujeito quer do predicado em variável, forma um conceito, desde que seus valôres sejam sempre ou o verdadeiro ou o falso.
Isso pôsto, seguem-se conseqüências as mais imprevisíveis. Primeiramente é preciso distinguir a relação que um argumento mantém com a função (relação subter, ou ∈ na notação de Peano), da relação que um conteúdo mantém com outro mais extenso (relação sub ou de inclusão)[I 6]. A antiga noção filosófica de subsunção, a relação que o conceito mantém com seus elementos, entendida na base da relação entre predicado e sujeito, dá lugar a duas noções totalmente distintas que revolucionam a teoria do juízo. Assim é que “Sócrates é mortal”, onde o argumento “Sócrates” satisfaz a função “... é mortal”, não pode mais ser posta no mesmo nível, como fazia a silogística tradicional, com a proposição “Todos os homens são mortais”, em que dois conceitos são relacionados em virtude de suas respectivas extensões. Do mesmo modo, a relação de parte e todo a que, desde Aristóteles, estava subordinada a noção de conceito, perde importância para a lógica em vista de sua ambigüidade. Os diagramas de Euler constituem apenas uma analogia imperfeita das verdadeiras relações que as proposições no silogismo mantêm entre si[I 7].
Em segundo lugar, a própria extensão passa por uma reforma radical, deixando de constituir na coleção de objetos que caem sob o conceito, para vir a ser determinada por uma propriedade do próprio conceito; firma-se, por conseguinte, a absoluta anterioridade da intensão sôbre a extensão. Aqui é preciso recorrer à importantíssima distinção entre propriedades (Eigenschaften) e marcas características (Merkmale) de um conceito, estas sendo propriedades das coisas que caem sob o conceito, aquelas, propriedades do próprio conceito, ou melhor conceitos de conceitos ou conceitos de segunda ordem. Cumpre não confundir, por exemplo, “retangular” como propriedade dos objetos que caem sob o conceito “triângulo retângulo” com a propriedade expressa pela frase “não há triângulos retangulares acutângulos” que se refere diretamente à característica do conceito em questão de não possuir sob si conceito algum[I 8]. Em outras palavras, é preciso não confundir as qualidades dos objetos cujos nomes são argumento do conceito com as propriedades do próprio conceito. A extensão figura entre as segundas, pois consiste na propriedade de o conceito dispor sob sua égide tantos e tais objetos.
Além do mais, a introdução de conceitos de segunda ordem resolve uma série de dificuldades que o simbolismo matemático havia levantado: 1) a classe nula, cuja compreensão se torna difícil de um ponto de vista extensional, na medida em que afirma a existência de uma coleção que não possui elementos, passa a corresponder à propriedade peculiar a certos conceitos, como “é um decaedro regular”, de não terem nada sob si; 2) o membro de uma classe não se confunde com a classe de um único elemento, pois o primeiro é um elemento da classe enquanto que a última é determinada pela propriedade de certos conceitos serem predicados de um único elemento; 3) a existência dos objetos matemáticos passa a ser determinada por um conceito de segunda ordem, de modo que se torna totalmente independente das formas da sensibilidade, ao contrário do que errôneamente pensava o kantismo; 4) finalmente o número cardinal recebe uma definição satisfatória, baseada na propriedade de os conceitos possuírem sob si determinada quantidade de objetos.
No entanto, a clivagem radical entre coisas e conceitos, que se estriba no caráter predicativo dêsses últimos, não se faz sem dificuldades. Contra ela se levanta a seguinte objeção que o lógico Kerry apontou: o conceito também pode surgir como sujeito, como na proposição “o conceito de número é de segunda ordem”. A resposta de Frege[I 9] reafirma: 1) há têrmos que só podem ocorrer como sujeitos, isto é, como nomes; 2) podemos ainda ter um conceito subordinado a outro, mas, neste caso, estamos operando com o nome e não com o próprio conceito. No exemplo acima, o predicado “de segunda ordem” seria dito do nome ”conceito de número“. Apesar de esta solução estar de acordo com nossos hábitos atuais, moldados pelo neopositivismo que tanto insistiu na diferença entre língua objetal e metalíngua, ela não dá conta do fato de a predicação se fazer sôbre o objeto nomeado pelo sujeito e não sôbre o próprio nome sujeito. Além do mais, é preciso salientar outra dificuldade apontada pelo primeiro Russell[I 10]: o caráter predicativo do conceito dificilmente se coaduna com a situação de sujeito. E é o próprio Frege quem reafirma no artigo contra Kerry: “o comportamento do conceito é essencialmente predicativo, mesmo quando se faz alguma asserção sôbre êle, de modo que só pode ser substituído por outro conceito, nunca por um objeto”[I 11]. Veremos mais tarde como o debate se aprofunda; por ora nos cabe apenas observar que o problema da transformação do conceito em objeto, ou o problema da nominalização, como o chamam os fenomenólogos, translada o conceito para outro nível, o que não se faz sem dificuldades do ponto de vista lógico.
O conceito justaposto a seu objeto constitui a proposição, forma expressiva do pensamento (Gedanke). A que se identifica êsse pensamento, ao sentido ou à denotação? É evidente que a denotação de uma proposição não se altera quando substituímos uma de suas partes por outra de mesma denotação, a despeito das possíveis modificações de sentido. Se substituirmos o sujeito da proposição “A estrêla da manhã é iluminada pelo sol” por “estrêla da tarde”, obteremos sem dúvida um pensamento diferente que, contudo, mantém a denotação anterior. Tudo indica, portanto, que pensamento e sentido de uma proposição são a mesma coisa. O que há, porém, de ser a denotação inalterável que permanece nas duas proposições, na que tem como sujeito “a estrêla da tarde” e na outra que tem como sujeito “a estrêla da manhã”? O que é de comum a ambas é apenas o valor de verdade verdadeiro, de modo que não há outra solução possível senão tomá-lo como a denotação. Assim sendo, o pensamento é o sentido da proposição e um valor de verdade a sua denotação[I 12]. Em lugar de referir-se aos fatos ou a uma conjunção de coisas, a proposição passa a denotar um objeto ideal constituído pelo valor verdadeiro ou pelo valor falso. Uma tradição que remonta a Aristóteles quebra-se pela primeira vez.
Nem tôdas as proposições possuem a mesma estrutura simples. Não nos cabe, todavia, entrar no pormenor, examinando como Frege analisa as sentenças mais complexas a fim de comprovar a viabilidade de sua interpretação. Fixemo-nos apenas em suas conseqüências filosóficas. Somos em geral levados a pensar a relação do pensamento com a verdade como aquela que vincula o sujeito à predicação. Na proposição “S é P”, P é dito da denotação de S, de sorte que, ao afirmar “‘S é P’ é verdadeiro” temos o predicado “é verdadeiro” reportando-se à denotação (um fato, por exemplo) do sujeito proposicional. Esta solução ingênua, todavia, não leva em conta a inexistência de uma diferença significativa entre a asserção “S é P” (“5 é um número primo”) e a asserção “‘S é P’ é verdadeiro” (“‘5 é um número primo’ é verdadeiro”). Graças a ela o sujeito e o predicado, entendidos num sentido lógico, devem ser elementos do pensamento a permanecerem, no que respeita ao conhecimento, sempre no mesmo nível. Sua combinação produz apenas pensamentos que sòmente se referem a uma objetividade sem, contudo, saltarem para ela, como se fôsse possível, pelo simples jôgo das proposições e suas partes, passar do pensamento para seu valor de verdade. Êste não pode fazer parte do pensamento, tampouco, digamos, como o sol, na medida em que não constituem sentidos mas objetos[I 13].
Tôdas as proposições declarativas simples possuem, destarte, duas denotações possíveis: a veracidade e a falsidade. Como tais, nos são perfeitamente inteligíveis sem que seja preciso eleger um dos valôres de verdade. O juízo consiste precisamente nesta eleição, no reconhecimento da verdade de um pensamento[I 14], na quebra da indiferença em que a proposição se apresentava no mero enunciado. Como tantos outros lógicos que lhe são contemporâneos, Frege distingue o conteúdo do juízo (beurteilbarer Inhalt), o pensamento simplesmente apreendido, da asserção que assevera sua verdade. Já o Begriffschrift separa o conteúdo (a mortalidade de Sócrates) da proposição (Sócrates é mortal); o primeiro é representado por um traço horizontal (—) diante da sentença, a segunda, a asseveração dêsse mesmo conteúdo (É verdade que Sócrates é mortal), é representada pelo traço vertical junto ao traço de conteúdo ([math]\displaystyle{ \vdash }[/math]).
No entanto, como fugir a uma determinação psicológica do conteúdo? A fenomenologia de Husserl tentou resolver a questão recorrendo à intencionalidade: a cada ato de juízo enquanto processo mental corresponde um conteúdo objetivo, visado pelo ato, mas que não partilha necessàriamente de sua natureza psicológica. É preciso não confundir, em suma, a percepção psicológica da mesa com a própria mesa como objeto do mundo. É evidente, porém, que esta solução não teria cabimento para Frege, porquanto pressupõe uma análise da consciência que se faz extralògicamente.
Foi precisamente com o intento de expurgar os últimos traços de psicologismo que Frege refunde sua primeira teoria da asserção. Os Grundlagen retomavam expressamente o princípio de abstração de Hume[I 15]: o conteúdo do juízo resulta de um processo que passa de conceitos menos extensos a outros mais abstratos. Tomemos, por exemplo, “x é paralelo a a” e façamos com que seja substituído por “a direção da reta a”, de sorte que a situação descrita pelo conceito de paralelismo venha a ser descrita pelo conceito “ter a mesma direção de a”. No juízo “b é paralelo a a” tem lugar, pois, uma dissociação geradora da equação “a direção de b é igual à direção de a”, conteúdo do primeiro juízo. É evidente que tal processo pressupõe uma atividade intelectual que opera a passagem de um a outro conceito. À primeira vista, esta brecha para o psicologismo pode parecer desimportante mas, na medida em que a definição de número como conceito de segunda ordem demanda esta forma de abstração, ela atinge os próprios fundamentos do logicismo que Frege pretendia estabelecer.
Exemplifiquemos: um conjunto A qualquer corresponde a um determinado conceito, a saber, “x é apóstolo de Cristo”, e outro conjunto B, também corresponde a outro conceito: “x é cavaleiro da Távola Redonda”. É possível estabelecer entre os conjuntos uma relação biunívoca, de modo a que possamos dizer que ambos possuem o mesmo número. O princípio de abstração destaca esta propriedade de possuir o mesmo número, que no caso diz respeito tanto aos apóstolos de Cristo como aos cavaleiros da Távola Redonda, para formar um conceito à parte que determina o número doze. Tínhamos, no início, dois conceitos, um referindo aos apóstolos, outro aos cavaleiros, que passam a ser substituídos pelo conceito “x tem o mesmo número que z”, definindo uma propriedade dos conceitos iniciais, isto é, um conceito de segunda ordem. O número doze nasce assim da abstração de uma propriedade muito peculiar de certos conceitos subsumirem sempre o mesmo número de elementos.
Além de recorrer a uma atividade intelectual para explicar a geração do conceito de segunda ordem, esta solução se torna ainda mais insatisfatória na medida em que o número doze, a que corresponde o nôvo conceito, constitui um objeto singular cujo estatuto é difícil de precisar nos têrmos da definição por abstração. De que maneira um conceito de segunda ordem vem a ser um objeto singular como o número?
Para resolver esta dificuldade Frege introduz, a partir de 1891, o conceito de percurso de valor (Wertverlauf) que, de um modo geral, designará a extensão de um conceito qualquer, inclusive a de um conceito de segunda ordem. Mas a prioridade do ponto de vista intensional não permite que essa extensão, ou melhor, a classe determinada pelo conceito, seja formada pela enumeração dos elementos que a compõem, dos elementos subsumidos pelo conceito, porquanto isto equivaleria a privilegiar os objetos em detrimento do conceito. Como resolver esta enorme dificuldade? Como reconhecer numa multiplicidade uma singularidade, processo indispensável para fundar lògicamente a teoria dos números cardinais, sem adotar a perspectiva da extensão?
Suponhamos duas funções f(x) e g(x); se reconhecermos algo em comum entre elas, chamaremos êste algo percurso de valor de ambas as funções. “Devemos admitir como uma lei fundamental da lógica o direito que temos então de reconhecer assim algo em comum às duas funções e, por conseguinte, transformar uma equivalência, válida geralmente, numa equação (identidade)”[I 16]. Conforme o exemplo acima, na proposição “para todo x, x é apóstolo de Cristo biimplica x é cavaleiro da Távola Redonda” verificamos uma equivalência entre as duas funções precisamente no aspecto particular de ambas denotarem o mesmo número de elementos. Frege considera como lei lógica fundamental, em que se funda tàcitamente as lógicas de Leibniz e de Boole, a possibilidade de passarmos da equivalência sob um aspecto para a identidade sob todos os aspectos, introduzindo para as funções igualadas um nôvo objeto e um símbolo correspondente. No exemplo, teremos então o número doze e o sinal “12”.
A descoberta desta lei abre horizontes inteiramente inéditos, já que redunda na constituição de novos objetos a partir de juízos analíticos. Haveria melhor refutação de Kant que nunca descobriu nesses juízos qualquer papel constitutivo? No entanto, apesar de sua importância filosófica, esta lei apenas introduz o conceito de percurso de valor, indicando um nôvo objeto, sem contudo estabelecer os critérios de sua identificação. A cada função passa a corresponder um objeto (a classe) que é igual a outros objetos determinados pelas funções equivalentes, e cada objeto passa a ser designado por um nome; como, porém, encontrar a denotação precisa do nome? Na verdade quando tratamos de números pequenos e de conceitos não muito complexos, a intuição nos fornece os recursos necessários para discernir quais os objetos que caem sob o conceito e quais os que não caem. No entanto, ainda que êsse recurso intuitivo fôsse lògicamente válido, êle nos abandona logo que examinamos o caso do número zero ou da classe nula. Além do mais, qual é o percurso de valor de uma função como x2 = 1?
A solução encontrada por Frege reduz, graças à introdução de uma função muito particular, os percursos de valor aos valôres de verdade. Seu exame pormenorizado[I 17] foge aos estreitos horizontes desta introdução. Cabe-nos apenas encaminhá-la para apontar suas conseqüências filosóficas mais imediatas.
Seja definida a função — do seguinte modo: — Δ é verdadeiro se Δ fôr verdadeiro, — Δ é falso se Δ não fôr verdadeiro. Assim sendo, pôsto que 22 = 4 é verdadeiro — (22 = 4) é verdadeiro, mas — (23 = 4) é falso da mesma maneira que — 2 também o é, pois neste último caso, 2 não sendo verdadeiro, ou melhor, não lhe cabendo valor de verdade algum, concluímos, em virtude da amplitude da segunda parte da definição, que — 2 é falso[I 18]. Êste último exemplo mostra que a função — serve para transformar qualquer coisa em conceito (numa função proposicional, na linguagem moderna), numa função cujos valôres sempre são valôres de verdade. No entanto, dada a função —, ainda não sabemos como fixar o objeto individual. Basta, porém, fixar arbitràriamente um dos valôres, tomando por falso, por exemplo, o percurso de valor do conceito “x não é idêntico a si mesmo” para, postas as denotações, reconhecermos inteiramente o nôvo objeto.
Ainda que esta rápida exposição seja incompleta, não sendo compreensível para quem não estiver familiarizado com o assunto, basta para mostrar que Frege, em seus últimos escritos, substitui o conteúdo do juízo gerado pela abstração e, por conseguinte, fundado na psicologia, pela função —, cujas propriedades dependem de uma estrutura lògicamente definida. Acresce ainda que, fixando arbitràriamente a denotação do falso a fim de precisar a denotação de cada percurso de valor, Frege situa o problema da relação entre as expressões e a denotação e, de modo mais geral, entre linguagem e mundo, estritamente em têrmos dos valôres de verdade, o que sem dúvida prepara o terreno para Wittgenstein e Carnap.
Frege já publicara o primeiro volume dos Grundgesetze e prepara o segundo quando recebe uma carta de Russell, datada de 16 de junho de 1902, em que êste lhe comunica a descoberta de uma antinomia relativa à noção de classe, que punha em xeque a noção de percurso de valor. Na sua forma mais simples, a antinomia pode ser expressa da seguinte maneira: seja w a classe de tôdas as classes que não sejam membros de si mesmas, de modo que para todo x, podemos dizer que x pertence a w é equivalente a x não pertence a x; ora, x é uma variável que pode inclusive ser substituída por w, de sorte que obtemos a proposição contraditória w pertence a w é idêntico a w não pertence a w. Não foi pequeno o choque de Frege que, desanimado, responde aos 22 do mesmo mês: “parece-me pois que a transformação de uma igualdade numa igualdade de percursos de valor (§9 de meus Princípios) não é mais permitida, pois minha lei V (§20, p. 36)[I 19] é falsa, e que minhas introduções no §31 não bastam para assegurar em todos os casos uma denotação às minhas conexões de símbolos”[I 20]. Em outras palavras, a descoberta da antinomia de Russell delimita o âmbito da lei fundamental de Frege que validava a passagem da equivalência para a identidade com a respectiva criação de novos objetos. Há certas expressões, como a “classe de tôdas as classes que não se contêm a si mesmas” a que não deve corresponder percurso de valor algum, isto é, um objeto real.
Não é verdadeira a lenda que narra o desespêro de Frege com o conseqüente abandono de suas investigações lógicas. É possível verificar que, na sua correspondência com Russell e no próprio apêndice apôsto ao segundo volume dos Princípios, procurava insistentemente a solução para os paradoxos. Contudo, não atinou com ela e, anos mais tarde, quando Russell lhe comunica o princípio da teoria dos tipos, o velho mestre cansado já não mais estava em condições de atribuir-lhe a devida importância. Outros haveriam de continuar seu trabalho.
II — Os caminhos tortuosos de Russell.
É impressionante a capacidade renovadora de Russell; durante mais de meio século que se dedicou às investigações lógicas, sempre estêve pronto para recomeçar desde o início, conforme iam exigindo o desenvolvimento do cálculo lógico e o aprofundamento das questões filosóficas ligadas a êle. Sob êsse aspecto é exemplo do filósofo assistemático, cujo percurso das idéias estêve marcado pela evolução dos problemas de seu tempo. Em seus escritos, até mesmo nos Principia Mathematica, nunca alcançou a precisão conceitual e a sistemática de Frege. Temos neste sentido o testemunho precioso de Gödel, que numa homenagem a Russell não hesitou em afirmar dêste último livro: “É lamentável que esta primeira apresentação completa e compreensiva da lógica matemática e de suas derivações matemáticas seja tão insuficiente a respeito da precisão de seus fundamentos (contidos *1 — *21 dos Principia), que representa em relação a Frege um considerável passo para trás. O que falta, sobretudo, é um estudo preciso da sintaxe do formalismo”[I 21]. No entanto, convém contrabalançar esta opinião desfavorável de Gödel, lembrando que as investigações de Russell cobrem todo o campo tradicionalmente demarcado pela filosofia do conhecimento; a falta de precisão é ao menos compensada pela amplitude de sua problemática.
Foi paulatinamente que Russell passou a dar importância a Frege. Se o corpo dos Principles quase o ignora, já o primeiro apêndice trata de estabelecer um confronto com êle. É aí que enuncia os principais pontos de divergência: a) Frege não pensa que haja uma contradição na noção de um conceito que não possa tornar-se sujeito lógico; b) acredita que, se o têrmo a ocorrer numa proposição, a proposição sempre pode ser analisada em a e na asserção sôbre êle; c) não leva em consideração as contradições que envolve a noção de classe de uma classe. Examinemos pormenorizadamente essas questões na ordem em que foram enumeradas:
a) O primeiro ponto nos leva a retomar a dificuldade levantada por Kerry.
Há certos exemplos da nominalização do conceito que nos conduzem diretamente a uma contradição: ao afirmarmos “o conceito de cavalo não é conceito” estamos negando o caráter predicativo do conceito exatamente no momento em que o denominamos conceito[I 22]. Vimos que a solução de Frege implica em distinguir o conceito enquanto predicado e o conceito nominalizado enquanto sujeito, o qual se refere, pelo fato de ser sujeito, a uma certa forma de objetividade. É óbvio que o realismo enraizado de Russell e a utilização sistemática do lema de Occam procurariam evitar a todo custo uma resposta de tal ordem. É nesse sentido que prefere identificar o conceito como predicado ao conceito como sujeito, em que pêse às diferenças evidentes que, descuradas pela lógica, são tratadas como problemas psicológicos ou meramente gramaticais. Negando tudo o que pudesse assemelhar-se à substância segunda de Aristóteles, a lógica não há, pois, de distinguir “é” de “ser”, “humano” de “humanidade”, etc. Feita esta identificação, como manter, porém, a separação entre têrmo e conceito? No que implica um núcleo significativo passar do predicado para o sujeito e vice-versa, sem sofrer a mínima alteração que importe à lógica? Não há dúvida de que há têrmos, como os nomes próprios, que só podem ser tomados como sujeitos, e Russell está de acordo em ampliar o emprêgo do nome próprio, fazendo-o designar pontos num espaço não-euclidiano, personagens fictícios de um romance, etc. Mas é preciso levar em consideração que certos conceitos, em particular os adjetivos, já que os verbos podem ser interpretados como meras relações, designam coisas, de sorte que, sem perderem sua natureza conceitual e predicativa, adquirem uma função aparentemente privativa do nome próprio. E a existência das descrições revela a importância dêsses conceitos designadores, capazes de, graças à uma peculiar vinculação com certos têrmos[I 23], estabelecerem uma relação mais ampla entre a linguagem e o mundo.
Êste problema da denotação tem, para o primeiro Russell, um campo muito mais restrito do que para Frege, pôsto que surge independentemente da problemática do sentido. Para o último filósofo, todos os nomes, inclusive a proposição enquanto nome, apresentam uma face denotativa; para o primeiro, ao contrário, sòmente certos predicados, aliados a certas palavras-chaves, importam uma relação com a objetividade. Tôdas as outras partes da proposição, excetuando-se òbviamente os nomes próprios, estabelecem relações que se consomem ùnicamente no plano do discurso.
Um conceito denota quando, ocorrendo numa proposição, esta não diz respeito ao conceito, mas a respeito do têrmo vinculado, de uma certa maneira, a êsse conceito[I 24]. É o que acontece, por exemplo, quando digo: “encontrei um homem”. Como se dá essa passagem do nível do discurso para o nível da coisa? O nome próprio designa diretamente uma coisa ou uma pessoa, mesmo quando é pronunciado isoladamente. Mas na proposição o atributo também é dito da coisa sujeito, implicando, no discurso, um relacionamento com o ser. É a partir dessa propriedade da predicação que Russell elabora sua primeira teoria da denotação: “A noção de denotação pode ser obtida por uma espécie de gênese lógica das proposições sujeito-predicado, das quais parece mais ou menos dependente”[I 25]. Sem todavia explicitar o grau e a natureza dessa dependência, Russell forma uma série de frases denotativas, explorando as significações correlatas que o atributo certamente possui. Daí a idéia de uma constituição das expressões denotativas a partir da denotação mais simples; estranha idéia para quem, como nós, nos acostumamos aos processos de construção exclusivamente formais e sintáticos, deixando de lado as correlações propostas pelos conceitos que se aliam a um conceito originário. Parece estranhável estabelecer um parentesco de conteúdos, mas esta idéia evidentemente ainda pode vir a desempenhar um papel relevante na crítica ao formalismo da lógica contemporânea.
As proposições mais simples são aquelas em que um atributo é dito de um têrmo-sujeito, tais como: “A é”, “A é uno”, “A é humano”. A essas proposições podemos correlacionar outras, diferentes quanto à forma, próximas, contudo, no que respeita ao significado: “A é uma entidade”, “A é uma unidade”, “A é um homem”, “A tem humanidade” e assim por diante. A última proposição exprime nitidamente a relação de um membro com sua classe e deve, por conseguinte, ser excluída das frases denotativas pròpriamente ditas. Examinemos “A é humano” e “A é um homem”. Talvez a diferença seja meramente verbal, convém, entretanto, distinguir o predicado e o conceito a que uma classe está associada[I 26], o qual passaremos a denominar conceito-classe (class-concept). Distingue-se òbviamente do conceito de classe como é “humanidade”. Cabe então a pergunta: “um homem” é um conceito ou um têrmo? Rigorosamente falando, nem um nem outro, “mas uma certa espécie de correlação entre certos têrmos, nomeadamente daqueles que são humanos”[I 27]. Sob a aparência unitária das palavras “um homem” se esconde, pois, uma reunião de têrmos sob forma disjuntiva: trata-se dêste homem, ou daquele, ou daquele outro, etc.[I 28]. Com isto se revela a natureza da frase denotativa: é formada graças à junção do conceito-classe e de uma palavra, no nosso exemplo “um”, que coloca o primeiro em relação com uma multiplicidade de objetos reunidos numa unidade segundo a forma indicada pela segunda[I 29]. O mesmo acontece, pois, com “todos os homens”, “cada homem”, “algum homem”, “o homem”, etc., tôdas apresentando ao espírito uma determinada reunião de objetos, obtida conforme um modo peculiar de congraçamento de seus membros. A mesma relação objetivamente, originária do conceito classe, dirige-se diferentemente a uma soma de objetos, denotando-os de uma forma particular.
b) Russell interpreta o vínculo que se dá entre a hipótese e a conseqüência da demonstração como uma relação indefinível a que dá o nome de implicação formal. No entanto, o paradoxo de Lewis Carrol mostra a inoperância desta relação quando se trata de destacar a conclusão e afirmar sua veracidade de per si. De fato, se tivermos “H implica T” e pretendemos obter a verdade de T ùnicamente a partir da implicação, cairíamos sob o jugo de um processo reiterante que nunca lograria afirmar apenas T. Graças à implicação, sòmente seria legítimo dizer que “Se ‘S implica T’, então T”, que por sua vez é uma implicação mais complexa do que a primeira. É por isso que Frege e Russell reconhecem a necessidade de uma regra paralela de destacamento, em particular o modus ponens, cuja função é precisamente assertar a verdade de T a partir da implicação “H implica T”[I 30]. Russell, no entanto, ainda não compreendera a importância dessa regra, contentando-se em tomá-la como um dos exemplos das limitações essenciais do formalismo[I 31].
Tôda a dificuldade se concentra, por conseguinte, na noção de implicação. Em seu debate com Frege, recusa firmemente partir dos valôres de verdade que, a seu ver, nada acrescentam à compreensão do juízo em geral[I 32]. E no corpo do tratado descobrimos o porquê de sua insuficiência: “Se p implica q, se p é verdadeiro, então q é verdadeiro, isto é, a verdade de p implica a verdade de q, portanto se q é falso, então p é falso, isto é, a falsidade de q implica a falsidade de p”. Dêsse modo, a verdade e a falsidade nos dão apenas novas implicações, mas não uma definição da implicação"[I 33], argumento que evidentemente confunde os vários planos da linguagem, situando a implicação no absoluto. Como nessa época nem Scheffer nem Nicod haviam demonstrado a possibilidade da definição cruzada dos conectivos lógicos e a redução de todos êles a um só, resultado obtido muito mais tarde, não foi difícil a Russell tomar a implicação como indefinível.
O caráter formal da matemática faz, contudo, com que a implicação material sòmente possa operar em casos muito particulares. “Na matemática assertamos que, se uma certa asserção p é verdadeira para uma entidade x ou para um conjunto de entidades x, y, z(...) então alguma outra asserção q é verdadeira para tais entidades. Assertamos uma relação entre as asserções p e q, que chamo implicação formal”[I 34]. Tomemos um exemplo: “Para todos os valôres de x, se x fôr um triângulo eqüiângulo, x é um triângulo eqüilátero”, esta fórmula, que interpreta a proposição corrente “Todos os triângulos eqüiláteros são eqüiângulos”, afirma que as duas asserções “é um triângulo eqüilátero” e “é um triângulo eqüiângulo” são ditas da entidade x, ou melhor, das várias entidades representadas por x. Como, entretanto, explicar a implicação formal? Quais são suas relações com a material?
Antes de tudo é preciso salientar que a implicação formal supõe a análise interna da proposição. Ora, essa análise difere totalmente em Frege e em Russell. Para o primeiro a unidade proposicional sempre se resolve num têrmo e num conceito ou, conforme as expressões do segundo, num têrmo e numa asserção. Esta última palavra designa a parte restante da proposição depois de subtraído o têrmo-sujeito, de forma que possui um significado totalmente diferente daquele que o toma como a asseveração do conteúdo proposicional. Para ambos os filósofos, todavia, a proposição configura uma unidade, uma maneira peculiar de totalização de seus elementos. Mas enquanto Frege acredita que a junção do têrmo e do conceito a recompõe, Russell nega que isto sempre ocorra. Na verdade, em tôdas as proposições de forma sujeito-predicado, a unidade imediatamente se refaz tão logo um têrmo ocupe o lugar do argumento da função. Isto, porém, não acontece em todos os casos de proposições mais complexas. A redução da sentença “todos os homens são mortais” em seus elementos essenciais redunda em afirmar que “para todo x, se x é homem, então x é mortal”; a saber, dois conceitos ou asserções, no vocabulário de Russell, são ditos da pseudovariável x. A recomposição da unidade proposicional primitiva, entretanto, esbarra na seguinte dificuldade: ao substituirmos o primeiro x por uma constante, Sócrates, por exemplo, não temos garantia de que a segunda ocorrência da variável deva ser substituída pela mesma constante. Dado isso, Russell é levado a distinguir asserção e função proposicional, a primeira sendo constituída pelo resto da proposição de que se tirou o têrmo, a segunda sendo formada por êsse mesmo resto tomado, todavia, na sua qualidade de parte da unidade funcional. A resolução em têrmo e asserção não assegura que as partes restantes da proposição não se reduzam a um simples agregado de membros justapostos; só a função proposicional, função cujo valor sempre é uma proposição, garante a peculiaríssima unidade que tôda proposição possui[I 35].
Descobrimos no fundo desta separação o mesmo preconceito de Russell, responsável pela identificação do predicado como tal e do predicado como sujeito. O problema do âmbito de variação de uma variável foi, na história da lógica, resolvido de maneiras diferentes. A admissão de substâncias segundas, por Aristóteles, delimitava imediatamente todos os argumentos da função “x é homem”, seu campo de variação não indo além das pessoas reais ou possíveis. Embora negando tais substâncias, Frege também caminha no sentido de estabelecer certas limitações no domínio das variáveis, aceitando vários tipos de variabilidade e, por conseguinte, sedimentando os conceitos em ordens diferentes[I 36]. Russell, entretanto, mantém uma variabilidade indiscriminada, postulando que “tôdas as funções que não podem ser valôres de variáveis de uma função de primeira ordem não são entidades mas falsas abstrações”[I 37], o que implica em afirmar que o predicado que não puder ser identificado com um sujeito é uma abstração desprovida de sentido. Isto redunda em negar a possibilidade de conceitos de segunda ordem e, por conseguinte, o balizamento das variáveis. Daí precisar atribuir à proposição o papel desempenhado por esse balizamento, de sorte que ela passa a possuir uma unidade totalizante que o têrmo e o conceito (a asserção) nem sempre são capazes de reproduzir.
A asserção, a função proposicional e a implicação material, entendida como relação originária, configuram, portanto, três noções primitivas. As duas últimas explicam a implicação formal: no exemplo anterior, a unidade do argumento que substitui as várias ocorrências de x é garantida pela unidade da proposição singular em que êle se inscreve. Colocado êsse ponto de partida, a implicação formal se resume numa classe, num feixe de implicações materiais[I 38]. Todo o pêso da variação cai, dêsse modo, sôbre a implicação material; “Para todos os x, se x é homem, então x é mortal” é uma proposição gerada por sentenças singulares do tipo “Se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal”.
Finalmente convém mencionar a frustrada tentativa de definir a proposição a partir dêsse conceito absoluto de implicação, já que o Tractatus se ocupa dela explicitamente[I 39]. Tôda proposição implica a si mesma e o que não é proposição não implica nada. Daí: “‘p é uma proposição’ equivale a dizer que ‘p implica p’”, definição puramente matemática que não deve ser confundida com a definição filosófica, cuja formulação sempre supõe a análise de uma idéia em suas partes constituintes[I 40].
c) “A principal dificuldade que surge a respeito da teoria das classes acima [a de Frege] é a espécie de entidade que o percurso (range) possa ser. A razão que me levou, contra minha inclinação, a adotar o ponto de vista extensional sôbre as classes foi a necessidade de descobrir alguma entidade determinada para uma função proposicional dada e a mesma para alguma função proposicional equivalente. Assim, ‘x é homem’ é equivalente (suponhamos) a ‘x é um bípede sem penas’, e pretendemos descobrir alguma entidade que é determinada do mesmo modo por ambas as funções proposicionais. A única entidade singular que fui capaz de descobrir foi a classe como una — exceto a classe derivada (também como una) formada pelas funções proposicionais equivalentes a uma das funções proposicionais dadas”[I 41]. Sendo esta última classe derivada e mais complexa, escapa à discussão das noções primitivas. Nada mais resta, portanto, do que postular a existência de um todo constituído pela reunião de indivíduos, denominado classe.
Vimos que o próprio Frege, logo que soube do paradoxo formado pela noção de classe de classe, reconhecera a necessidade de impor certas limitações a essa passagem da equivalência das funções para o percurso de valôres. A polêmica do primeiro Russell contra Frege, entretanto, não se dirige apenas no sentido de estabelecer essas limitações, mas sobretudo no sentido de averiguar o tipo de existência compatível com a noção de classe. Em que medida uma entidade pode ser ao mesmo tempo una e múltipla? A que entidade corresponde a classe nula? Como distinguir a classe formada por um elemento de seu próprio elemento? Perguntas tradicionais, muito mais ligadas à problemática da ontologia formal do que aos problemas suscitados pela construção de um cálculo lógico-aritmético.
Nos primeiros textos, Russell[I 42] concebe a classe essencialmente como a conjunção numérica de têrmos, assumindo òbviamente uma perspectiva extensional. Mas com a introdução de classes infinitas já se coloca na ótica da intensionalidade, embora tais distinções de ponto de vista sejam consideradas de fundo meramente psicológico: a impossibilidade de se obter uma classe infinita pela conjunção numérica de têrmos é interpretada apenas como obstáculo ligado à natureza do espírito humano, incapaz de contar o infinito[I 43]. É para satisfazer interêsses práticos que se deve, pois, recorrer a conceitos-classes, fazendo as classes corresponderem a seus plurais. Estudamos, na teoria da denotação, como ao predicado se associa um conceito-classe que, unido a uma série de palavras quantificadoras (“um”, “todo”, “algum”, etc.) passa a denotar objetos reunidos de uma certa forma. A frase denotativa “todos os homens”, por exemplo “denota uma coleção de indivíduos humanos ligados pela conjunção e, coleção cuja unidade, todavia, não possui a mesma integração de uma totalidade. A classe é, pois, essencialmente múltipla, sendo a classe nula e a classe una ficções matemàticamente úteis, determinadas por conceitos-classes, a que nenhuma entidade há de corresponder”[I 44].
No entanto, já o apêndice A dos Principles reformula esta teoria simplista. Russell se defrontara com o seguinte argumento de Frege que parecia comprovar a exclusividade do ponto de vista intensional: se a fôr uma classe de mais de um têrmo, e se a fôr idêntica à classe cujo único têrmo é a, então ser um têrmo de a é a mesma coisa do que ser um têrmo da classe cujo único têrmo é a, pois a é o único têrmo de a[I 45]. Tudo gira em tôrno da unidade da classe e da classe una; feita a identificação de ambas, surge imediatamente o paradoxo de atribuir uma multiplicação à unidade e vice-versa. Russell entrevê duas possibilidades para sua solução: 1) a coleção de mais do que um têrmo não é idêntica à coleção cujo único têrmo é a; 2) não há uma coleção de um têrmo no caso de uma coleção de muitos têrmos, mas a coleção é estritamente múltipla. O primeiro caminho é trilhado por Frege, que considera o percurso de valor uma única unidade formada pela passagem da equivalência à identidade, — o segundo é reafirmado pelo próprio Russell.
A primitiva teoria das classes obedecia a um princípio lógico, cuja formulação, contudo[I 46], não aparecia no corpo da obra. O princípio é o seguinte: uma pluralidade de têrmos não é um sujeito lógico quando um número é assertado dela; tais proposições não têm um sentido mas muitos — o que equivale a destruir a unidade visível do sujeito enquanto têrmo em proveito da multiplicidade de sua denotação. O argumento de Frege, porém, demanda uma redução em seu âmbito. “O sujeito de uma proposição pode não ser um têrmo singular, afirma Russell em seu apêndice contra Frege, mas pode essencialmente ser formado por múltiplos têrmos; êste é o caso de tôdas as proposições que assertam números além de 0 e 1. Mas os predicados, conceitos-classes ou relações que podem ocorrer nas proposições que possuem sujeitos plurais são diferentes (com algumas exceções) daqueles que podem ocorrer nas proposições que possuem têrmos singulares como sujeitos. Embora a classe seja múltipla e não una, há identidade e diversidade entre as classes, de sorte que as classes podem ser contadas como se fôssem unidades genuínas. Neste sentido podemos falar de uma classe e das classes que são membros de uma classe de classe. Um deve ser tomado, entretanto, como sendo algo diferente quando é assertado de uma classe e quando é assertado de um têrmo; há um sentido de um que é utilizável quando se refere a um têrmo e outro quando se refere a uma classe, embora haja também um têrmo geral aplicável a ambos os casos. A doutrina básica sôbre a qual tudo se assenta é que o sujeito de uma proposição pode ser plural e que tais sujeitos plurais são o que as classes significam quando possuem mais de um têrmo”[I 47]. Permanece a mesma exigência do têrmo-sujeito poder denotar uma multiplicidade de objetos, mas Russell agora reconhece a possibilidade de se tomar essa multiplicidade como uma unidade legítima do ponto de vista matemático, em que pêse à destruição da univocidade do sentido da palavra “um”. Só assim se evita o paradoxo das classes, pois na proposição “x pertence a x”, a unidade do primeiro x não é dita da mesma maneira do que a unidade do segundo.
Logo em seguida encontramos uma explicitação do próprio Russell: “conforme o ponto de vista defendido aqui será necessário, para cada variável, indicar se o campo de significação consiste em têrmos, classe, classe de classes e assim por diante”[I 48], o que implica uma estratificação dos objetos que prenuncia a teoria dos tipos. Em lugar da estratificação dos conceitos, defendida por Frege, temos agora uma estratificação dos objetos lógicos e, por conseguinte, a destruição da unidade postulada pelo têrmo sujeito. Dêsse modo, paulatinamente o problema da objetividade correspondente ao têrmo passa a vincular-se ao problema da edificação de um sistema formal, desvencilhando-se dos dados fornecidos pela intuição para ligar-se ao contexto lógico. Está aberto o caminho que desembocará na doutrina dos Principia, em que a classe e as constantes lógicas serão concebidas como símbolos incompletos cuja significação está na mais estreita dependência do sistema.
III — Alguns aspectos semânticos dos Principia.
No prefácio à segunda edição dos Principles, fazendo como de hábito o inventário dos caminhos percorridos por seu próprio pensamento, Russell comenta: “eu partilhava com Frege a crença na realidade platônica dos números que, na minha imaginação, povoavam o reino intemporal do Ser. Era uma fé confortável que mais tarde abandonei”[I 49]. Pouco a pouco vai reduzindo-se o número de objetos necessários para a construção da lógica e da matemática; e conforme se processa esta redução, palavras que anteriormente designavam um objeto autônomo, possuindo sentido completo, passam a designar e a significar na estrita dependência do contexto. O lema de Occam está em pleno funcionamento. Os Principles, ao definir o têrmo[I 50], assegurava a cada palavra certo sentido, transformando tudo o que pode ser objeto de pensamento ou ser contado como unidade num têrmo independente. Na doutrina posterior, todavia, êste princípio se torna falso; se tôda palavra contribui para o sentido da proposição, pois, se assim não fôsse, não seria pronunciada ou escrita, não precisa ipso facto possuir sentido[I 51]. Muitas vêzes a função da palavra se resume apenas em auxiliar a formação de um sentido que só vem a ser percebido numa totalidade mais ampla.
O passo mais decisivo nessa direção foi dado pelo importíssimo artigo, publicado em 1905, intitulado “On denoting”. Já observamos como a teoria da denotação é essencial para a compreensão da natureza da classe; é evidente que, ao chegar à primeira solução completa e satisfatória para o problema, tôda a teoria da significação e da verdade haveria de ser reformulada.
Antes de tudo, Russell estabelece a distinção entre acquaintance, saber das coisas tais como nos são apresentadas, e knowledge about, conhecimento obtido por frases denotativas tais como “a revolução da Terra em volta do Sol”, “o atual rei da Inglaterra”, etc. Os exemplos mostram sua importância: a denotação, denotando pela forma, estabelece uma ponte entre o conhecimento imediato e o mediato.
Toma, em seguida, três expressões fundamentais: 1) a noção de variável; 2) o símbolo C(x) que representa uma função proposicional em que x é variável; 3) a proposição “C(x) é sempre verdadeiro” da qual se deriva “C(x) é algumas vêzes verdadeiro”, equivalente a “Não é verdade que ‘C(x) é sempre falso’ é sempre verdadeiro”. Como se vê, trata de solucionar o problema da denotação, isto é, da correlação de certas expressões com seus significados, por meio das noções de falso e de verdadeiro. Dado isso, os quantificadores encontram desde logo sua interpretação:
C (todo) significa “C(x) é sempre verdadeiro”
C (nenhum) significa “‘C(x) é falso’ é sempre verdadeiro”
C (alguns) significa “É falso que ‘C(x) é falso’ é sempre verdadeiro”.
A solução mais inovadora, entretanto, aparece na redução do artigo “o”. A proposição “O pai de Carlos II foi executado” resolve-se em “Não é sempre falso de x que x gerou Carlos II e x foi executado e ‘se y gerou Carlos II, então y é idêntico a x’ é sempre verdadeiro”. Em outras palavras, devemos substituir a frase “o pai de Carlos II”, que na qualidade de sujeito poderia alimentar a ilusão de que constituiria um nome, por uma função proposicional “x gerou Carlos II”, para em seguida garantir a unicidade dêste x estabelecendo que, se um outro y também gerou Carlos II, então y é igual a x.
Esta interpretação das frases denotativas evita, primeiramente, atribuir a expressões tais como “o atual rei de França”, “o quadrado redondo”, ao aparecerem como sujeito, certa objetividade que deve logo ser negada quando se enuncia uma frase negativa: “O atual rei da França não existe”; resultado que òbviamente infringe o princípio de contradição. Além do mais, a despeito do caráter esdrúxulo da solução proposta, ela resolve todos os problemas com que se defrontava Frege, economizando ainda a distinção entre o sentido e a denotação e reduzindo o número de objetos primitivos necessários, na medida em que tais nomes complexos passam a ser interpretados como descrições. Por que isolar o sentido quando êsse sentido nunca vem designado a não ser pela denotação de uma expressão em que êle não surge como sentido? O princípio do terceiro excluído obriga a que ou “A é B” ou “A não é B” seja verdadeiro, de sorte que teremos “‘O atual rei de França é calvo’ é verdadeiro” ou “‘O atual rei de França não é calvo’ é verdadeiro”; mas se enumeramos tôdas as coisas calvas e tôdas as que não o são, por certo não encontraremos entre os membros dessas classes exclusivas o atual rei de França. Ora, basta traduzir a proposição conforme a solução proposta para que o paradoxo desapareça. Temos duas interpretações possíveis: 1) “É falso que haja uma entidade que agora é o atual rei de França e não é calvo”, que é evidentemente verdadeira; 2) “Existe uma entidade que é o atual rei de França e não é calvo”, òbviamente falsa. Na primeira, a descrição faz parte de uma proposição que por sua vez faz parte da proposição que se inicia com “É falso...”, sendo pois tomada numa ocorrência secundária; na segunda, a descrição se inscreve numa proposição autônoma, por conseguinte, numa ocorrência primária[I 52].
Ambas as soluções, a de Frege e a de Russell, conduzem, portanto, a resultados contrários ao senso comum e a intuições mobilizadas no ato de enunciar. Se uma descrição é um nome, a própria proposição declarativa se torna o nome de um valor de verdade; mas para que a proposição designe um fato, as descrições devem ser reduzidas a um complexo de funções proposicionais. Ou de um lado ou de outro a intuição se rompe, cedendo lugar à construção formal. É de notar que, do ponto de vista sintático, atualmente se consideram válidas as duas soluções; a eleição de uma delas só tem relevância, destarte, para a compreensão das relações entre a linguagem e o mundo.
Resta-nos finalmente examinar a questão dos paradoxos. É sabido que a solução evolui desde os Principles até os Principia, envolvendo delicados processos de cálculo, cuja análise escapa a nossos propósitos. Cabe-nos, entretanto, examinar certos pressupostos semânticos da teoria dos tipos que inegàvelmente estão na raiz da investigação de Wittgenstein.
Na base de todo paradoxo Russell descobre um círculo vicioso que sempre nasce quando se forma uma coleção que ao menos tem um de seus membros definido pela própria coleção. O conjunto de tôdas as proposições, por exemplo, deverá conter a proposição particular “Tôdas as proposições são verdadeiras ou falsas”, cujo sentido por sua vez envolve a totalidade das proposições. De um modo mais geral podemos dizer que surge um paradoxo quando uma função proposicional tem um argumento cujo sentido depende da função como um todo. E para evitá-lo, Russell passa a considerar tais totalidades como desprovidas de sentido. Daí o princípio chamado do círculo vicioso: tudo o que envolve a totalidade de uma coleção não deve pertencer a essa coleção[I 53].
Suas conseqüências são drásticas, em particular no que respeita às noções lógicas pròpriamente ditas. Tomemos como exemplo a proposição “p é falso” e consideremos o caso em que “Para todos os p, p é falso”. Esta última sentença é evidentemente falsa, de forma que teremos: “‘Para todos os p, p é falso’ é falso”, onde a expressão “Para todos os p, p é falso” é argumento da função “p é falso”. O princípio do círculo vicioso nos obriga a tomar esta última função “é falso” num sentido diferente da primeira função que aparece no interior do argumento. Isto nos leva a perceber que, paralelamente à sedimentação dos objetos em vários níveis, necessária para que se estabeleça a hierarquia dos tipos, ocorre uma sedimentação das noções lógicas: obtemos várias formas de falsidade, de verdade, assim como de todos os conectivos como “ou”, “e”, “se... então”, “não”, etc.
Importa considerar particularmente a primeira espécie de verdade e falsidade, pois implica uma teoria geral do juízo. “O universo é constituído de objetos que possuem várias qualidades e mantêm várias relações entre si. Alguns dos objetos que correm no universo são complexos. Quando um objeto é complexo, é constituído por partes inter-relacionadas. Consideremos um objeto composto de duas partes a e b mantendo entre si a relação R. O objeto complexo a–na–relação–R–com–b pode ser capaz de ser percebido, e quando é percebido, o é como um objeto. A atenção deve mostrar que é complexo; julgamos então que a e b estão na relação R. Tal juízo, derivado da percepção graças à mera atenção, pode ser chamado ‘juízo de percepção’. Êste juízo de percepção, considerado como uma ocorrência atual, é uma relação de quatro têrmos: a, b, R, e o percebedor. A percepção, ao contrário, é uma relação de dois têrmos: ‘a em relação R com b’ e o percebedor. Já que um objeto da percepção não pode deixar de ser algo, não podemos perceber ‘a–na–relação–R–com–b’ a não ser que a esteja na relação R com b. Assim sendo, um juízo de percepção, de acôrdo com a definição, deve ser verdadeiro. Isto não significa que, num juízo que nos parece ser de percepção, estejamos seguros de não incorrermos em êrro, pôsto que podemos errar ao pensar que nosso juízo foi derivado meramente da análise do que foi percebido. Mas se nosso juízo assim se derivou, então deve ser verdadeiro. De fato, podemos definir verdade sempre que se diga respeito a tais juízos, consistindo no fato de que há um complexo correspondendo ao pensamento discursivo que é o juízo. Isto é, ao julgarmos ‘a–em–relação–R–com–b’, nosso juízo é dito verdadeiro quando há o complexo ‘a–em–relação–R–com–b’ e dito falso quando isto não ocorre. Esta é a definição de verdade em relação a juízos dessa espécie”[I 54]. Dêsse modo, o juízo não tem um único objeto, a proposição, mas se defronta com objetos entrelaçados por uma relação em que o sujeito aparece como um dos têrmos. “Isto é vermelho”, por exemplo, se resolve em três têrmos: a mente, isto, e o vermelho — de modo que até mesmo uma proposição da forma sujeito-predicado se transforma numa relação. Nada mais natural assim do que considerar a proposição como um têrmo incompleto, cujo complemento se oculta na ação do sujeito. Tôda proposição se completa sòmente quando integra no seu sentido o ato de julgar[I 55].
Segue-se daí a determinação do complexo como todo objeto da forma “a–está–em–relação–R–com–b”, ou “a–tem–a–qualidade–q”, ou “a–ou–b–ou–c–estão–na–relação–S”, a saber, tudo o que ocorre no universo sem ser simples[I 56].
Cumpre finalmente mencionar a hierarquia das funções e das proposições. Examinemos mais de perto a primeira. O tipo lógico é considerado como a coleção dos argumentos para os quais uma função tem valor. Quando numa expressão surge uma variável aparente, o domínio dos valôres dessa variável forma o tipo. Além do mais, o próprio princípio do círculo vicioso pode ser expresso em têrmos de variáveis: tudo o que contém uma variável aparente não pode vir a ser valor dessa variável. Dado isso, a expressão que contém uma variável aparente deve ser de tipo superior àquêle que ordena os possíveis valôres da variável[I 57].
A hierarquia dos tipos segue-se imediatamente. As mais simples proposições desprovidas de variáveis são da forma: “Isto é vermelho”, “Sócrates é mortal”, etc., isto é, proposições predicativas que dizem respeito às coisas. Se substituímos essas coisas por variáveis obteremos funções proposicionais que, quando generalizadas, geram novas proposições. A essas funções ou a essas proposições generalizadas chamamos de primeira ordem; a totalidade dos argumentos da primeira constitui o primeiro tipo. As funções proposicionais operam pois como matrizes, sendo as da primeira ordem da seguinte forma: ϕ(x), ψ(x, y), χ(x, y, z...). Cumpre ainda estabelecer que as funções de primeira ordem que não contêm uma função como variável aparente são chamadas de funções predicativas.
Transformemos, em seguida, as funções de primeira ordem em variáveis. Pelo mesmo processo de generalização obteremos proposições em que funções surgem como variáveis aparentes, o que dá origem a proposições de segunda ordem cujos argumentos formam o segundo tipo lógico. E assim por diante.
Esta estratificação dos objetos não é paralela a uma estratificação das funções proposicionais. A primeira restrição provém do axioma da redutibilidade, axioma que se faz necessário ao funcionamento da teoria mas que, em virtude de seu caráter não-formal, foi recusado por grande parte dos lógicos contemporâneos que se ocuparam da questão. Afirma que, dada uma função proposicional de qualquer ordem, sempre existe uma função predicativa, formalmente equivalente à primeira — definindo-se equivalência formal pelo fato de ambas as proposições possuírem o mesmo valor de verdade. Um exemplo nos fará melhor compreender seu propósito. A proposição “Napoleão tem tôdas as qualidades que fazem um grande general” é de segunda ordem, pois toma como um todo as qualidades, os predicados, que fazem um grande general. Graças ao axioma, podemos afirmar que existe um predicado de Napoleão equivalente a essa função de segunda ordem. No caso, sua construção é fácil: a classe dos grandes generais é finita e podemos eleger de cada um de seus membros uma propriedade característica, por exemplo, a data de nascimento, e compor uma função complexa disjuntiva, vinculando tôdas as propriedades determinantes (x nasceu em tal data, ou y nasceu nesta outra data, ou...), função que por sua vez é de primeira ordem e tem Napoleão como um de seus argumentos[I 58].
A segunda restrição possui apenas caráter prático, mas, ligando-se à teoria das classes, tem importância considerável para a elaboração da teoria da verdade. Abandonando tôda preocupação ontológica, Russell chega finalmente a uma teoria das classes conseqüente, em que estas são tomadas como símbolos incompletos, exclusivamente definidos pelo uso, aparecendo como artifícios de natureza lingüística, mas que não devem necessàriamente denotar uma objetividade determinada.
O ponto de partida é uma definição precisa da extensionalidade. Já dissemos de passagem que duas funções são equivalentes quando possuem o mesmo valor de verdade e formalmente equivalentes quando são equivalentes para todos os seus argumentos possíveis. Assim é que “x é homem” é formalmente equivalente a “x é um bípede sem penas”. Além do mais, uma função de função é dita extensional quando seus valôres de verdade, para qualquer argumento, são os mesmos para qualquer argumento formalmente equivalente, isto é, f(ϕx) é uma função extensional de ϕx se, substituindo ϕx pela função formalmente equivalente ψx, f(ϕx) será equivalente a f(ψx). Exemplificando: a função “‘x é homem’ implica ‘x é mortal’” é uma função extensional da função “x é mortal”, pois se substituímos essa função por outra que lhe é formalmente equivalente, por exemplo, “x é um bípede sem penas”, os valôres de verdade da função total não são alterados. Em contraposição, dizemos que uma função de função é intensional quando não fôr extensional. É o que acontece, por exemplo, com a função “A acredita que ‘x é homem’ implica ‘x é mortal’”, porquanto A pode nunca ter considerado a possibilidade de que os bípedes sem penas possam ser mortais[I 59].
“Quando duas funções são formalmente equivalentes podemos dizer que têm a mesma extensão. Nessa definição, estamos concordando estritamente com o costume. Não admitimos, porém, que haja uma coisa tal como a extensão, apenas definimos a frase inteira ter a mesma extensão. Podemos então dizer que uma função extensional de uma função é aquela cuja verdade ou falsidade depende sòmente da extensão de seus argumentos. Neste caso, é conveniente encarar a proposição como concernindo à extensão. Já que as funções extensionais são muitas e importantes, é natural olhar a extensão como um objeto, chamado classe, que se supõe ser o sujeito de tôdas as sentenças equivalentes sôbre as várias funções formalmente equivalentes. Dêsse modo, se dissermos, por exemplo, há doze apóstolos, é natural tomar esta sentença como atribuindo a propriedade de ser doze a uma certa coleção de homens, nomeadamente daqueles que foram os apóstolos, ao invés de atribuir a propriedade de ser satisfeita por doze argumentos à função ‘x era um apóstolo’. Esta visão é encorajada pelo sentimento de que existe algo que é idêntico no caso de as duas funções ‘terem a mesma extensão’. Se, além do mais, tomarmos certos problemas simples como ‘quantas combinações é possível fazer com n coisas’ parece à primeira vista necessário que cada ‘combinação’ fôsse um objeto singular que pudesse ser contado como uno. Isto, no entanto, não é preciso de um ponto de vista técnico, e não vemos razão para supor que seja filosòficamente verdadeiro”[I 60].
Pretendendo mostrar a necessidade de um tratamento particular das funções extensionais, Russell estabelece uma fórmula para reduzir tôdas as funções a funções extensionais, processo que não convém examinar por aqui. Basta porém lembrar, primeiramente, que a função da função passa a ser substituída por uma função derivada que tem por argumento, em vez da função ϕx, a classe determinada por ela ou pelas outras funções formalmente equivalentes. Em segundo lugar, para que esta função derivada seja sempre significativa para argumentos de qualquer tipo é necessário e suficiente que o axioma da redutibilidade garanta a existência de uma função predicativa equivalente a ϕx, de sorte que a função derivada que tem as classes como argumentos não apenas substitui qualquer função por uma função extensional mas ainda remove pràticamente a necessidade de considerar as diferenças de tipo entre as funções cujos argumentos são do mesmo tipo. Esta conseqüência equivale a uma simplificação na hierarquia dos tipos, de sorte que tudo se passa como se não considerássemos senão funções predicativas[I 61].
Convém examinar essa doutrina à luz dos correspondentes textos de Frege. O ponto de partida é o mesmo: a passagem formal das funções para o substrato da identidade. Mas essa passagem tem agora o caráter prático, de conveniência, não respondendo a nenhum imperativo teórico. Além do mais, operando como função de função, ao invés da função de Frege, Russell mostra que importa apenas definir as condições de seu uso e da substituição de seus argumentos, sem dar a menor atenção a um possível substrato ontológico. Nessas condições, falar do objeto formado pela classe não é mais do que uma concessão ao uso corrente das expressões matemáticas e um artifício para facilitar o discurso: a função derivada que a introduz é definida de tal forma que sempre será possível substituir a objetividade inoportuna por uma expressão que se reporta a indivíduos. Em virtude dêsse caráter vicário da noção de classe, esta não pode estabelecer uma propriedade geral de uma função, não pode ter a espessura de um conceito de segunda ordem, como em Frege; se ela é propriedade, o é de uma coleção de objetos que, todavia, continuam a estar sob o signo da multiplicidade. Do ponto de vista do cálculo ambos os caminhos se equivalem, pois ambos terminam por garantir a definição de número cardinal como classe de classe (Russell) ou propriedade de uma propriedade (Frege). Sòmente, graças a uma astuciosa construção simbólica, a objetividade discutível da classe como unidade é excluída do campo dos legítimos problemas matemáticos. Mais uma vez o princípio de Occam devasta os objetos da ontologia formal, mais uma vez se reduz o número de objetos necessários e das frases cujo significado se dá no imediato.
IV — Os primeiros passos de Wittgenstein.
É conhecida a diversidade de interêsses do jovem Wittgenstein. Nos fins de 1911, porém, tendo lido os Principles of Mathematics, apaixona-se pela filosofia da matemática e decide abandonar de vez seus estudos de engenharia. Procura Frege em Iena que, segundo consta, o aconselha a trabalhar com Russell. Assim é que, no início do ano seguinte, se matricula na Universidade de Cambridge. Em pouco tempo se estabelece íntima colaboração entre o professor no apogeu de sua carreira filosófica e o aluno cujo gênio despertava numa súbita erupção; colaboração amiga, extremamente fértil para ambos, mas que não deixou de ser permeada de incidentes que desde logo demonstravam as diferenças profundas de temperamento filosófico. Já em março de 1913 Wittgenstein, de visita a Viena, escreve a Russell marcando sua posição: “(...) posso agora exprimir exatamente minha objeção à sua teoria do juízo: creio ser óbvio que da proposição ‘A julga que (digamos) a esteja na relação R com b’, se fôr corretamente analisada, as proposições ‘aRb . ∨ . aRb’ devem seguir diretamente, sem o emprêgo de qualquer outra premissa. Essa condição não é cumprida por sua teoria”[I 62]. Qual é o alcance dessa objeção? O que significa dizer que a compreensão de uma sentença implica em recorrer ao princípio do terceiro excluído? Uma explicação mais pormenorizada encontra-se nas “Notas sôbre a lógica”[I 63], série de observações redigidas em setembro de 1913, cuja cópia foi entregue ao próprio Russell. O exame das idéias fundamentais dessas notas revela uma polêmica explícita contra Frege e Russell e, em embrião, algumas das descobertas básicas posteriores. Com isto, o elo entre os três pensadores se faz sem solução de continuidade, de maneira a nos conduzir a apreender ao vivo o surgimento do Tractatus.
Depois de salientar o caráter descritivo da filosofia, depois de lembrar como esta se resolve em lógica e metafísica, Wittgenstein inicia o confronto com seus grandes mestres: “Frege diz ‘proposições são nomes’; Russell diz ‘proposições correspondem a complexos’. Ambos estão errados, sendo especialmente falsa a sentença ‘proposições são nomes de complexos’. Fatos não podem ser nomeados. A falsa assunção de que proposições são nomes nos conduz a acreditar que haja ‘objetos lógicos’, pois o sentido das proposições haveria de ser tais coisas”[I 64]. O horror à ontologia formal baliza a pergunta sôbre as relações que a linguagem mantém com o mundo. Que objetos poderiam ser aquêles a que corresponderiam as constantes lógicas? O pressuposto empirista eliminaria, pois, desde logo, a análise da proposição proposta por Frege, análise que transforma a verdade e a falsidade em objetos denotados pelas proposições. O que o leva, entretanto, a abandonar a solução de Russell? Não há dúvida de que introduzir a mente como parte constitutiva do sentido da proposição é uma brecha para o psicologismo, mas Wittgenstein por certo não se contentaria com argumentos de tal ordem geral e filosófica. A oposição, como veremos, nasce de questões técnicas, em particular da análise muito original das condições de inteligibilidade da proposição.
É um dado evidente e inquestionável que compreendemos uma proposição antes de precisarmos decidir a respeito de sua veracidade ou falsidade. O que isto significa do ponto de vista lógico? A resposta clássica distingue a proposição meramente enunciada da proposição assertada, a simples formulação do sentido, da aceitação de sua verdade ou de sua falsidade. Não há dúvida de que Wittgenstein também distingue (sense, Sinn) da denotação (meaning, Bedeutung), mas o que importa é explicitar as condições lógicas, estreitamente ligadas à problemática da verdade, ao invés de reafirmar a autonomia do sentido sem prover as condições de sua determinação. O que implica entendermos uma sentença antes de conhecermos sua verdade ou falsidade? Isto de um prisma essencialmente lógico, de suas próprias condições de verdade? “Nem o sentido nem a denotação de uma proposição são uma coisa. Essas palavras são símbolos incompletos. É claro que entendemos proposições sem conhecer se são verdadeiras ou falsas. Mas sòmente podemos conhecer a denotação de uma proposição quando sabemos se é verdadeira ou falsa. O que compreendemos é o sentido da proposição. Para compreender a proposição p não basta saber que p implica ‘p é verdadeiro’, devemos saber ainda que p implica ‘p é falso’. Isto mostra a bipolaridade da proposição. Compreendemos uma proposição se compreendemos seus constituintes e suas formas. Se conhecemos a denotação de ‘a’ e de ‘b’ e sabemos que ‘xRy’ significa para todos os x e y, então também compreendemos ‘aRb’. Compreendo a proposição ‘aRb’ quando sei que ou o fato aRb ou o fato não aRb corresponde a ela, mas isto não deve ser confundido com a falsa opinião de que compreendo ‘aRb’ quando sei que ‘aRb ou não aRb’ ocorre”[I 65].
A afirmação de que nem o sentido nem a denotação são coisas opõe uma barreira ao formalismo de Frege; não há objetos lógicos e o fato é a referência indicada pela preposição. Mas nesse ato de visar, a proposição mobiliza dois pólos (o verdadeiro e o falso) que demarcam sua própria inteligibilidade. Se dissermos, por exemplo, “a casa é vermelha”, a expressão como tal acrescida de todos os seus significados implícitos quer dizer “‘a casa vermelha’ é verdadeiro o que importa também em afirmar que ‘a casa não é vermelha’ é falso”. Dentro das possibilidades desdobradas pelo princípio do terceiro excluído em relação à proposição p, o sentido de p equivale a restringir o campo dessas possibilidades, em tomar a verdade de uma parte em detrimento de todo o resto. Daí o sentido, a despeito de mobilizar tôdas as possibilidades implicadas pelo princípio do terceiro excluído, não se confundir com êle, que simplesmente afirma tais possibilidades contraditórias sem atribuir-lhes pêso algum e sem estabelecer entre elas níveis diferentes. A imagem utilizada é reveladora: uma mancha preta no papel determina um conjunto de fatos (pontos) positivos e, por conseguinte, todos os outros fatos (pontos) negativos, que estão fora da mancha; a afirmação de um é a exclusão de outro e vice-versa. De sorte que tanto o sentido como a denotação de uma sentença, tais como aparecem intuitivamente no enunciado, são incompletos, na medida em que a proposição afirmativa já estabelece lògicamente a negação de sua contraditória e o fato denotado positivamente já implica na exclusão do fato negativo e vice-versa[I 66]. Sob êsse aspecto Wittgenstein pode então dizer “a característica de minha teoria é que: p tem a mesma denotação que não–p”[I 67].
Na proposição “aRb” consideram-se em geral três indefiníveis, os nomes “a” e “b”, cada um denotando um objeto, e a forma “xRy”. Não se questiona o caráter indefinível dos nomes; como, porém, interpretar a forma? Antigamente havia a tendência de pensá-la sempre segundo a predicação de um atributo a um sujeito; hoje, ao contrário, tudo é reduzido a relações. A teoria de Russell é um impulso poderoso nesse sentido. Qual é, porém, o exato significado da forma da proposição?
Cabe primeiramente desconfiar das indicações sugeridas pelos signos isolados tanto falados como escritos. As notações de Frege e de Russell, por exemplo, escondem a verdadeira natureza da linguagem[I 68]. “Símbolos não são o que parecem ser. Em ‘aRb’ ‘R’ parece um substantivo, embora não o seja. O que simboliza em ‘aRb’ é que ‘R’ ocorre entre ‘a’ e ‘b’. De modo que ‘R’ não é indefinível em ‘aRb’. Igualmente em ‘ϕx’, ‘ϕ’ parece um substantivo, embora não o seja: em ‘∼p’, ‘∼’ parece igual a ‘ϕ’, mas não o é. Esta é a primeira coisa que indica que pode não haver constantes lógicas. A razão contra elas é a generalidade da lógica: a lógica não pode tratar de um conjunto especial de coisas”[I 69]. E de notar que esta desconfiança contra o sinal é básica, pois indicará a Wittgenstein o caminho para reformular tanto a relação do predicado com o sujeito como o próprio estatuto do sujeito em sua qualidade de substância.
Em segundo lugar, a axiomatização cumpre menos do que promete na busca dos indefiníveis. Construindo seus sistemas axiomáticos, Frege e Russell necessitaram admitir certas constantes lógicas como primitivas, a negação e a implicação, por exemplo, todos os outros conectivos sendo definidos a partir delas. Ora, a simples possibilidade de partirmos de outros conectivos, tomados como primitivos, e de definir em seguida a negação e a implicação, sugere seu caráter derivado. “A possibilidade de definições cruzadas dos indefiníveis na velha lógica mostra por si mesma que êstes não são pròpriamente indefiníveis e, mais conclusivamente, que não denotam relações. Os indefiníveis lógicos não podem ser predicados ou relações, porque proposições, possuindo sentido, não podem ter predicados ou relações. Nem são ‘não’ e ‘ou’, como juízo, análogos a predicados e relações, pois não introduzem nada de novo”[I 70].
Percebemos logo o alcance dessas objeções. A forma da proposição não se identifica com uma constante lógica, porquanto isto seria restringir demasiadamente as ambições absolutistas da lógica. Se uma constante lógica denotasse um objeto, êste seria um entre muitos, e a generalidade indiscutível da lógica desapareceria; se constituísse um indefinível, sua indefinibilidade dependeria dos interêsses particulares de cada sistema axiomático. Mas numa época como a nossa, em que o absoluto é pôsto em xeque em todos os sentidos, em que medida Wittgenstein o recuperará precisamente no campo da lógica, onde tem sofrido os ataques mais devastadores?
“A forma da proposição pode ser simbolizada da seguinte maneira: consideremos símbolos da forma ‘xRy’ aos quais correspondem primàriamente pares de objetos, dentre os quais um tem o nome ‘x’ e o outro o nome ‘y’. Os x e os y estão em várias relações mútuas e, entre outras, a relação R está incluída em algumas e em outras não. Determino o sentido de ‘xRy’ estabelecendo a regra: quando os fatos se comportam (behave) com referência a ‘xRy’ tal que a denotação de ‘x’ está na relação R com o sentido de ‘y’, digo então que êsses fatos são ‘de mesmo sentido’ (gleichsinnig) que a proposição ‘xRy’; no caso contrário, ‘de sentido oposto’ (entgegengesetzt). Correlaciono os fatos ao símbolo ‘xRy’, dividindo-os em aquêles de mesmo sentido e os de sentido oposto. A esta correlação corresponde a correlação do nome e da denotação. Ambas são psicológicas. Dêsse modo, compreendo a forma ‘xRy’ quando sei que discrimina o comportamento de x e de y conforme estejam ou não na relação R. Por êsse meio extraio dentre tôdas as possíveis relações a relação R, da mesma maneira que, por meio do nome, extraio sua denotação dentre tôdas as coisas possíveis”[I 71]. Essa teoria explora a qualidade de a proposição ser também um fato, e como tal uma estrutura articulada. Na verdade, a escrita ou a notação simbólica podem sugerir o contrário, levando-nos a pensar a proposição como um conjunto de partes justapostas. Se, porém, não nos enganarmos com as aparências, descobrimos que as proposições possuem uma articulação interna que as torna símbolos de outros fatos que possuem a mesma articulação[I 72], de sorte que o símbolo é símbolo de algo porque dos dois fatos possuem a mesma estrutura. É preciso, porém, não pensar a referência do signo ao significado nem nos têrmos da nominação nem como uma relação qualquer. O êrro fundamental de Frege consistiu em reduzir essa referência a um mesmo tipo, fazendo com que nomes e proposições se reportassem do mesmo modo a objetividades peculiares; a linguagem torna-se uma maneira de nomear coisas e fatos. Russell caminha na mesma direção, mas a interpreta como relação, transformando a linguagem num modo geral de relacionamento com o mundo. Ambos desconhecem a especificidade da nominação e da proposição. Feita, porém, essa imprescindível diferenciação, Wittgenstein retoma a lição de Russell, descobrindo na sentença e no fato significado uma lacuna que a expressão imediata não pode cobrir: o sentido p implica uma referência a p, o fato positivo se insere num contexto de fatos negativos. Daí o relacionamento da língua com a realidade depender de uma certa “isomorfia” oculta, cada proposição desempenhando o papel de uma régua que se apõe aos fatos e separando-os, graças a êsse gesto, em dois campos, o daqueles que se colocam no mesmo sentido do que ela, o daqueles que se colocam em sentido contrário[I 73]. O sentido da proposição age como um guarda a encaminhar o fluxo do trânsito para um lado e para o outro.
Como, entretanto, alcançar esta forma em sua pureza lógica? “Se numa proposição convertermos todos os indefiníveis em variáveis, permanece a classe de proposições que não incluem tôdas as proposições, embora inclua um tipo inteiro. Se transformarmos um constituinte da proposição ϕ(a) numa variável, existe então a classe [math]\displaystyle{ \hat{p} }[/math] [(∃x) . ϕx = p]. Esta classe ainda depende em geral do que, por uma convenção arbitrária entendemos por ‘ϕx’. Mas se transformarmos em variáveis todos êsses símbolos cuja significação (significance) era arbitràriamente determinada, ainda permanece tal classe. Agora, porém, não mais depende de convenção alguma, apenas da natureza do símbolo ‘ϕx’. Isto corresponde a um tipo lógico”[I 74]. A comparação dêste texto com a proposição 3.315 do Tractatus nos leva a compreender a estreita dependência que Wittgenstein vê entre a forma e o tipo lógicos. Ao lembrarmos que Russell define o tipo como o domínio de significação (significance) de uma função proposicional, isto é, a coleção de argumentos para os quais a dita função tem valor, torna-se evidente que a forma lógica é uma extensão do tipo, obtida por meio da variação eidética das partes constituintes da função[I 75]. A função básica não é reflexionante, isto é, nenhum de seus argumentos depende, para alcançar sua individualidade, da própria função a que serve de cumprimento, e o mesmo acontece com a proposição. Partindo dêsse fundamento, que permanece inquestionável, Wittgenstein o leva ao limite máximo, variando em todos os sentidos esta forma irreflexiva. O acesso a ela nos é dado pela própria variação, mas seu estatuto lógico, em virtude precisamente dessa irreflexibilidade, torna-se difícil de precisar. Como dizer algo dêsse absoluto respeitando os limites da irreflexão? Por isso a forma lógica não se situa no plano das coisas ditas. Na medida em que entre a expressão e o fato deve haver algo em comum, precisamente a forma lógica, a expressão da forma, isto é, outro fato que tem com ela também algo em comum, apenas a reitera. Diante dessa monotonia improdutiva das expressões da forma, cabe-nos tão-sòmente apreendê-la. De sorte que a inutilidade da teoria dos tipos custa nem mais nem menos do que a indizibilidade de tudo a que a lógica concerne.
Dado isso, Wittgenstein passa a examinar questões menos gerais. Estudaremos apenas três, aquelas que tratam diretamente de suas relações com Frege e Russell.
Em primeiro lugar, o sinal da asserção desaparece, porque êste se confunde com o enunciado. Separar a proposição enunciada da proposição assertada implicava em situar a lógica exclusivamente no domínio das proposições verdadeiras. Ora, para Wittgenstein importa a estrutura bipolar da proposição, antes da eleição de um valor determinado. “Uma proposição não pode possìvelmente assertar de si mesma que é verdadeira. A asserção é meramente psicológica. Há apenas proposições inassertadas. Juízos, mandamentos e questões, todos se situam no mesmo nível, todos possuem em comum a forma proposicional, e isto é apenas o que nos interessa. A lógica se interessa apenas por proposições inassertadas”[I 76]. Total revolução nos domínios da lógica, que se extende assim muito além das proposições apofânticas, numa completa subversão dos limites traçados por Aristóteles.
Convém, em segundo lugar, examinar a forma da proposição “A julga p”. A crítica com que nos defrontamos já é um comêço da doutrina defendida posteriormente, quando o valor de tôdas as proposições complexas dependerá dos valôres de verdade das proposições elementares. De acôrdo com a interpretação dada à noção de sentido, deve ser completada do seguinte modo: “A julga que ‘p’ é verdadeiro e ‘não–p’ é falso”[I 77]. “A proposição ‘A julga p’ consiste no nome próprio A, na proposição p com seus dois pólos, e A se relacionando com ambos êsses pólos numa certa maneira. Esta òbviamente não é uma relação no sentido ordinário. Tôda teoria correta do juízo deve tornar impossível julgar que ‘esta mesa caneteia (penhonders) o livro’ (A teoria de Russell não satisfaz a êste requisito)”[I 78]. A teoria do juízo deve evitar juízos absurdos, e isto só se obtém quando forem enquadrados em sua própria bipolaridade.
Trata-se, como se vê, de corrigir a doutrina de Russell, inspirando-se na nova interpretação da problemática do sentido. Ainda permanece o sujeito A, mas êste sujeito já se relaciona com a proposição de uma forma diferente daquela que vincula as partes da sentença. No Tractatus, todavia, quando a noção de figuração ampliará o conceito de forma lógica, o sujeito A será substituído pela própria proposição p; “A julga p resolvendo-se em ”p julga p"[I 79]. O primeiro p é um modêlo proposicional do segundo p, de sorte que a consciência se afasta para os limites do mundo, os estados de consciência referentes à proposição passam a constituir outra expressão em que ela pode revestir-se. A tese da radical extensionalidade das proposições pode então ser adotada sem encontrar qualquer obstáculo.
Finalmente, cabe examinar a crítica à teoria do complexo. Segundo Wittgenstein, o fato é sempre imaginado por Russell como um complexo espacial e, como os complexos espaciais são constituídos de coisas e de relações, todos os modos diferentes de complexidade são reduzidos a um só[I 80]. A relação entre os fatos e suas partes constitutivas e a relação que opera entre um fato e outro que se segue a partir do primeiro, por exemplo, são postas no mesmo plano. Apesar da semelhança que realmente existe entre ambas, expressa pela fórmula ϕa. ⊃ϕ,α . a = a, não há razão alguma para identificá-las. Em suma, a teoria dos complexos resulta de uma extrapolação indevida da teoria das relações. Dado isso, Wittgenstein passa a expor sua própria teoria. “Tôda sentença sôbre complexos pode resolver-se na soma lógica da sentença sôbre os constituintes e na sentença sôbre a proposição que descreve o complexo inteiramente. Como, em cada caso, a resolução há de ser feita, é uma questão importante, mas sua resposta não é incondicionalmente necessária para a construção da lógica. Repetindo: cada proposição que parece ser sôbre complexos pode ser analisada numa proposição sôbre seus constituintes e sôbre a proposição que descreve o complexo perfeitamente, isto é, à proposição que equivale a dizer que o complexo existe”[I 81]. Êste enunciado, que reaparece no Tractatus[I 82] constitui uma das peças essenciais para o estabelecimento do atomismo lógico, defendido por Wittgenstein em seus primeiros escritos. No entanto, apesar de sua importância, não tem encontrado entre os comentadores uma interpretação convincente. Qual é a proposição que descreve completamente o complexo? Sem entrar em pormenores, convém lembrar que esta ou estas proposições que apanham o complexo na sua totalidade surgem no lugar que o sujeito ocupava na teoria de Russell, devendo, portanto, possuir a mesma estrutura do complexo. O que importa é salientar que o complexo para Wittgenstein não apenas se reduz ao simples, graças a um único processo de dissolução, mas na sua totalidade não pode ser tratado como simples, não deve possuir a cômoda propriedade de, sendo composto, poder ser tomado como a unidade[I 83].
V — Na direção do Tractatus.
As “Notas sôbre a lógica” dividem-se em cinco partes: I — Bipolaridade das proposições. Sentido e Denotação. Verdade e Falsidade; II — Análise das proposições atômicas. Indefiniveis gerais, predicados, etc.; III — Análise das proposições moleculares: funções – a, b[I 84]; IV — Análise das proposições gerais; V — Princípios do simbolismo: O que o símbolo significa. Fatos por fatos. O plano é òbviamente simples: partindo de uma nova teoria do sentido e da denotação, de um lado, cabe analisar a estrutura interna da proposição até chegar aos elementos simples e indefiníveis; de outro, examinar como as proposições complexas se compõem e, depois de estudar o problema das proposições universais, chegar aos princípios básicos do simbolismo.
À primeira vista êsse plano foi abandonado pelo Tractatus, cuja composição se escande segundo as sete proposições fundamentais: 1) O mundo é tudo o que ocorre. 2) O que ocorre, o fato, é o subsistir de estados de coisas. 3) Pensamento é a figuração lógica dos fatos. 4) O pensamento é a proposição significativa. 5) A proposição é uma função de verdade das proposições elementares. 6) A forma geral da função de verdade é [math]\displaystyle{ [ \bar{p}, \bar{\xi}, N (\bar{\xi}) ] }[/math]. Esta é a forma geral da proposição. 7) O que não se pode falar, deve-se calar. No entanto, a despeito das discrepâncias evidentes, não é difícil mostrar que os dois escritos obedecem à mesma inspiração; sòmente o Tractatus ampliou sobremaneira a primeira parte das “Notas sôbre a lógica”, desenvolvendo pormenorizadamente as condições lógicas da significação.
Num texto anterior vimos, em que pêse à importância da resolução do complexo em simples, que “sua resposta não é incondicionalmente necessária para a construção da lógica”. Dêsse modo, é preciso postular a existência dos elementos simples, sem contudo se deter nas fórmulas possíveis de resolução, cujo estudo fica além dos estreitos limites do formalismo lógico. Atitude fundamentalmente anti-empirista, em que a simplicidade nada tem a ver com a realidade percebida, como fizeram crer os neopositivistas, porquanto a lógica se interroga desde o início a propósito das condições de possibilidade, colocando-se numa perspectiva transcendental. Se o Tractatus se inicia pela análise do mundo, êste mundo, os fatos, os estados de coisas e os objetos são conceitos formais, cuja determinação se faz ùnicamente para fixar a determinabilidade do sentido das proposições. Todos êsses passos são dados ùnicamente do ponto de vista da necessidade que possui a língua de ter uma realidade a que se referir. No entanto, a problemática do sentido também sofre radical ampliação, na medida em que as proposições passam a constituir caso especial dos vários tipos de modelos, de figurações, que construímos do mundo. Por que um conceito de tal monta não merece uma proposição especial? Simplesmente porque a figuração ainda é fato, embora seja fato de outro fato. Assim sendo, as duas proposições iniciais do Tractatus se ocupam dos fatos, de sua resolução e de sua construção, assim como de um fato especial, construído por nós, e que possui a virtude de simbolizar outro. Sòmente na terceira, surge a definição da proposição como revestimento concreto do pensamento, daquele elemento lógico comum a tôdas as figurações. Em seguida, a linha das “Notas sôbre a lógica” torna-se aparente no Tractatus; êste passa a examinar a resolução da proposição em seus elementos simples e as formas possíveis de composição e dependência, na base dos valôres de verdade das proposições elementares. No final, a proposição 7, no seu laconismo dramático, retoma a problemática geral do simbolismo, reafirmando incisivamente a diferença entre o dizer e o mostrar.
Existe, porém, uma dificuldade de que o próprio Wittgenstein se deu conta. Para mostrar o que deve ser mostrado além do discurso, para indicar a indizibilidade das formas lógicas é preciso falar, ainda que a fala seja absurda. E o Tractatus é essa linguagem absurda que há de ser abolida no final, quando o discurso se enquadrar nos estreitos limites da figuração do mundo. Obra de passagem, não cabe atribuir-lhe demasiada importância.
Continuamos, entretanto, a estudá-lo, a analisar uma por uma suas proposições como se elas dissessem algo. Não é então para duvidar dêste seu princípio básico que elimina da lingua tôda sorte de reflexão? Acresce ainda que nenhuma linguagem matemática obedece rigorosamente a estratificação dos tipos, estabelecida por Russell e levada aos últimos limites por Wittgenstein. E o próprio desenvolvimento da lógica moderna cada vez mais nos convence de que a teoria dos tipos foi uma solução artificial, gerada por uma concepção absolutista da matemática, que hoje dificilmente encontra guarida, principalmente quando o método axiomático perdeu a auréola de que se revestia no início do século. Mas admitir a reflexão no seio do discurso, a possibilidade de o predicado tornar-se sujeito e nesse processo sua denotação adquirir a unidade e a espessura de uma certa objetividade, tem como conseqüência, não apenas recair no enrêdo dos paradoxos, mas, sobretudo, recolocar a problemática da filosofia da linguagem em têrmos diferentes daqueles em que Wittgenstein e os neopositivistas colocaram. Não há mais a separação radical e absoluta entre o discurso e o real, de modo que os caminhos de Frege e de Husserl voltam a ter viabilidade. A não ser que, conduzidos pelo próprio Wittgenstein, enveredemos por uma concepção fragmentada e utilitarista da linguagem, como acontece em suas últimas obras, em que a significação é determinada pelo uso e seu alcance é descoberto pelo emprego sistemático de certos jogos lingüísticos.
Convém ainda lembrar que a teoria da significação desenvolvida no Tractatus pressupõe a decidibilidade de tôdas as proposições, isto é, que sempre possamos dizer de uma sentença corretamente formada se é falsa ou verdadeira. Na raiz da objeção de Wittgenstein contra a teoria do juízo de Russell encontra-se o pressuposto de que sempre será possível determinar o valor de verdade da proposição. Ora, em 1931 Gödel mostrou que proposições aritméticas elementares não podiam ser demonstradas na base de um sistema axiomático completo, não sendo pois possível decidir-se de sua verdade ou falsidade, utilizando ùnicamente processos postos à disposição pelo sistema. O princípio em que Wittgenstein assentara o Tractatus cai por terra; sòmente o cálculo proposicional e outros cálculos menores que, todavia, não esgotam a complexidade do discurso matemático, estão em condição de aproximar a significação dos valôres de verdade.
Se o desenvolvimento da lógica matemática pôs em xeque certos fundamentos do Tractatus, o que nos leva a relê-lo e a reeditá-lo? Seguramente não é apenas por sua importância histórica, nem pela riqueza das idéias que encontramos em seu interior. Ainda que sejamos atraídos pela beleza de sua arquitetônica, o que importa, assim o cremos, é a radicalidade de suas posições. O problema do conhecimento se assentava, na filosofia tradicional, sobretudo nas relações entre a consciência e a realidade. E fácil verificar que a reflexão sôbre a consciência cedeu lugar à reflexão sôbre a língua. Nesta direção, Wittgenstein deu um dos primeiros passos decisivos, e talvez ninguém tenha colocado a questão da linguagem e do mundo em têrmos tão radicais.
Devo expressar aqui meus agradecimentos pela atenciosa leitura de meu texto que fizeram os professôres Andrès R. Raggio e Francisco Costa Felix, assim como pela cuidadosa revisão de Almir De Oliveira Aguiar.
Universidade de São Paulo
setembro de 1968
- ↑ Schriften von Ludwig Wittgenstein, vol. 1, pp. 276–8, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1960.
- ↑ Há uma tradução inglêsa publicada por Basil Blackwell, Oxford, 1959.
- ↑ Cf. a coletânea feita por Peter Geach e Max Black: Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, Basil Blackwell, Oxford, 1952.
- ↑ Grundgesetze, I, p. 5.
- ↑ Translations from Philosophical Writings of Gottlob Frege, p. 3.
- ↑ Ibid., p. 94.
- ↑ Ibid., p. 106.
- ↑ Grundlagen, § 53; Translations, p. 51.
- ↑ Translations, pp. 42 e seg.
- ↑ Cf. Principles, p. 507.
- ↑ Translations, p. 50.
- ↑ Ibid., p. 62.
- ↑ Ibid., p. 64.
- ↑ Grundgesetze, p. 9.
- ↑ Grundlagen, § 63.
- ↑ Grundgesetze, II, § 154, p. 181, e para a definição formal § 9, p. 14; Cf. o pormenorizado estudo de Jules Vuillemin: “L’élimination des définitions par abstraction chez Frege”, Revue philosophique, n.º 1, janeiro-março 1966.
- ↑ Cf. Grundgesetze, § 10, pp. 16 e seg.; Russell, Principles, § 484, pp. 511 e seg.; Vuillemin, op. cit.
- ↑ Grundgesetze, p. 19.
- ↑ A lei diz que, sendo dois objetos iguais, tudo o que se atribui ao primeiro também será atribuído ao segundo, o que não acontece quando os objetos forem diferentes.
- ↑ Hans-Dieter Sluga, “Frege und die Typentheorie”, in Logik und Logikkalkül, Verlag Karl Alber, pp. 205, 206.
- ↑ The Philosophy of Bertrand Russell, Tudor Publishing Company, Nova York, p. 126.
- ↑ Principles, § 49, p. 46.
- ↑ Ibid., § 56.
- ↑ Ibid., § 56, p. 53.
- ↑ Ibid., § 57, p. 54.
- ↑ Ibid., § 58, p. 56.
- ↑ Ibid., § 57, p. 54.
- ↑ Ibid., § 60, p. 59.
- ↑ Ibid., § 57, p. 62.
- ↑ Ibid., § 38, p. 35.
- ↑ Ibid., § 18, p. 16.
- ↑ Ibid., § 478, p. 503.
- ↑ Ibid., § 16, pp. 14–15.
- ↑ Ibid., § 5, p. 5.
- ↑ Ibid., § 137, p. 441, § 482, p. 508.
- ↑ Ibid., § 482, pp. 508-9.
- ↑ Ibid., § 482, p. 509.
- ↑ Ibid., § 42, p. 38.
- ↑ Cf. 5.5351.
- ↑ Principles, § 16, p. 15.
- ↑ Ibid., § 486, p. 513.
- ↑ Cf. ibid., cap. VI.
- ↑ Ibid., § 71, p. 68.
- ↑ Ibid., § 79, pp. 80–1.
- ↑ Ibid., § 487, p. 513.
- ↑ Cf. ibid., § 70, p. 69, nota.
- ↑ Ibid., § 490, pp. 516–7.
- ↑ Ibid., § 492, p. 518.
- ↑ Ibid., p. X.
- ↑ Ibid., cap. IV.
- ↑ Ibid., p. X.
- ↑ “On Denoting”, in Logic and Knowledge, p. 41 e seg., George Allen & Unwin, Londres; Cf. Principia, I, pp. 30 e seg.; 66 e seg.
- ↑ Principia, I, 37.
- ↑ Ibid., p. 43.
- ↑ Ibid., p. 44.
- ↑ Ibid., p. 44.
- ↑ “Mathematical Logic”, in Logic and Knowledge, p. 75.
- ↑ Principia, I, p. 56.
- ↑ Ibid., pp. 73, 73.
- ↑ Ibid., p. 74.
- ↑ Ibid., p. 75.
- ↑ Schriften, I, p. 261.
- ↑ Embora por comodidade continuemos a citar a edição alemã, o leitor poderá também encontrar esse texto, escrito primitivamente em inglês nos Notebooks — 1914–1916, Apêndice I, B. Blackwell, Oxford, 1961.
- ↑ Schriften, I, p. 189.
- ↑ Ibid., pp. 189–191.
- ↑ Ibid., p. 193, Cf. Tractatus, 4.063.
- ↑ Schriften, I, p. 189.
- ↑ Ibid., p. 207.
- ↑ Ibid., p. 205.
- ↑ Ibid., p. 209.
- ↑ Ibid., p. 203.
- ↑ Ibid., p. 211.
- ↑ Ibid., p. 197.
- ↑ Ibid., p. 223.
- ↑ Ao receber os manuscritos do Tractatus, Russell escreve a Wittgenstein pedindo-lhe uma série de informações, dentre elas uma sôbre o assunto em questão. Wittgenstein responde, retomando o texto de Russell e complementando-o: “‘A teoria do tipo, a meu ver, é a teoria do simbolismo correto: um símbolo simples não deve ser usado para exprimir algo complexo: mais geralmente, um símbolo deve ter a mesma estrutura que sua denotação (meaning)’. Isto é exatamente o que se pode dizer. Você não pode prescrever a um símbolo o que lhe é permitido expressar. Tudo o que um símbolo pode expressar lhe é permitido” (Schriften, I, p. 275).
- ↑ Ibid., p. 195; Cf. Tractatus, 4.442.
- ↑ Schriften, I, p. 197.
- ↑ Ibid., p. 195.
- ↑ Cf. 5.542.
- ↑ Schriften, I, p. 197.
- ↑ Ibid., p. 205.
- ↑ Cf. 2.0201.
- ↑ Schriften, I, p. 205.
- ↑ Na notação inicial a, b indica verdadeiro e falso.
Ludwig Wittgenstein
Tractatus Logico-Philosophicus
À memória de
DAVID H. PINSENT
Mote: ... e tudo o que se sabe, que não seja apenas rumor ouvido, pode ser dito em três palavras.Kürnberger
Prefácio
Talvez êste livro sòmente seja compreendido por quem já tenha cogitado por si próprio os pensamentos aqui expressos, ou ao menos cogitado pensamentos semelhantes. Não é, pois, um manual. Terá alcançado seu objetivo se agradar a quem o ler com atenção.
Trata de problemas filosóficos e mostra, creio eu, que o questionar dêsses problemas repousa na má compreensão da lógica de nossa linguagem. Poder-se-ia apanhar todo o sentido do livro com estas palavras: em geral o que pode ser dito, o pode ser claramente, mas o que não se pode falar deve-se calar.
Pretende, portanto, estabelecer um limite ao pensar, ou melhor, não ao pensar mas à expressão do pensamento, porquanto para traçar um limite ao pensar deveríamos poder pensar ambos os lados dêsse limite (de sorte que deveríamos pensar o que não pode ser pensado).
O limite será, pois, traçado ùnicamente no interior da língua; tudo o que fica além dêle será simplesmente absurdo.
Não quero julgar até onde meus esforços coincidem com os de outros filósofos. Por certo o que escrevi não pretende ser original no pormenor; por isso não dou fonte alguma, pôsto que me é indiferente se o que pensei já foi pensado por alguém antes de mim.
Quero apenas mencionar que devo grande parte do estímulo a meus pensamentos às grandiosas obras de Frege e aos trabalhos de meu amigo Sr. Bertrand Russell.
Caso meu trabalho tenha valor, êle será duplo. Primeiramente porque exprime pensamentos, valor que será tanto maior quanto melhor os pensamentos forem expressos. Nisto estou consciente de estar muito aquém do possível, simplesmente porque minhas fôrças são poucas para cumprir a tarefa. Possam outros vir e fazer melhor.
No entanto, a verdade dos pensamentos comunicados aqui me parece intocável e definitiva, de modo que penso ter resolvido os problemas no que é essencial. Se não me engano, o segundo valor dêsse trabalho é mostrar quão pouco se consegue quando se resolvem tais problemas.
L. W.
Viena, 1918
1 O mundo é tudo o que ocorre.[1]
1.1 O mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas.
1.11 O mundo é determinado pelos fatos e por isto consistir em todos os fatos.
1.12 A totalidade dos fatos determina, pois, o que ocorre e também tudo que não ocorre.
1.13 Os fatos, no espaço lógico, são o mundo.
1.2 O mundo se resolve em fatos.
1.21 Algo pode ocorrer ou não ocorrer e todo o resto permanecer na mesma.
2 O que ocorre, o fato, é o subsistir dos estados de coisas.
2.01 O estado de coisas é uma ligação de objetos (coisas).
2.011 É essencial para a coisa poder ser parte constituinte de um estado de coisas.
2.012 Nada é acidental na lógica: se uma coisa puder aparecer num estado de coisas, a possibilidade do estado de coisas já deve estar antecipada nela.
2.0121 Parece, por assim dizer, acidental que à coisa, que poderia subsistir sòzinha e para si, viesse ajustar-se em seguida uma situação.
Se as coisas podem aparecer em estados de coisas, então isto já deve estar nelas.
(Algo lógico não pode ser meramente-possível. A lógica trata de cada possibilidade e tôdas as possibilidades são fatos que lhe pertencem.)
Assim como não podemos pensar objetos espaciais fora do espaço, os temporais fora do tempo, assim não podemos pensar nenhum objeto fora da possibilidade de sua ligação com outros.
Se posso pensar o objeto ligando-o ao estado de coisas, não posso então pensá-lo fora da possibilidade dessa ligação.
2.0122 A coisa é autônoma enquanto puder aparecer em tôdas as situações possíveis, mas esta forma de autonomia é uma forma de conexão com o estado de coisas, uma forma de heteronomia. (É impossível palavras comparecerem de dois modos diferentes, sòzinhas e na proposição.)
2.0123 Se conheço o objeto, também conheço tôdas as possibilidades de seu aparecer em estados de coisas.
(Cada uma dessas possibilidades deve estar na natureza do objeto.)
Não é possível posteriormente encontrar nova possibilidade.
2.01231 Para conhecer um objeto não devo com efeito conhecer suas propriedades externas — mas tôdas as internas.
2.0124 Ao serem dados todos os objetos, dão-se também todos os possíveis estados de coisas.
2.013 Cada coisa está como num espaço de estados de coisas possíveis. Posso pensar êste espaço vazio, mas não a coisa sem o espaço.
2.0131 O objeto espacial deve estar no espaço infinito. (O ponto no espaço é lugar do argumento.)
A mancha no campo visual não deve, pois, ser vermelha, mas deve ter uma côr; tem; por assim dizer, uma espacialidade colorida em volta de si. O som deve possuir uma altura, o objeto do tato, uma dureza, e assim por diante.
2.014 Os objetos contêm a possibilidade de tôdas as situações.
2.0141 A possibilidade de seu aparecer nos estados de coisas é a forma dos objetos.
2.02 O objeto é simples.
2.0201 Cada asserção sôbre complexos deixa-se dividir numa asserção sôbre suas partes constitutivas e naquelas proposições que descrevem inteiramente tais complexos.
2.021 Os objetos formam a substância do mundo. Por isso não podem ser compostos.
2.0211 Se o mundo não possuísse substância, para uma proposição ter sentido dependeria de outra proposição ser verdadeira.
2.0212 Seria, pois, impossível traçar uma figuração do mundo (verdadeira ou falsa).
2.022 É claro que um mundo, pensado muito diferente do real, deve possuir algo — uma forma — comum com êste mundo real.
2.023 Esta forma fixa consiste precisamente em objetos.
2.0231 A substância do mundo pode determinar apenas uma forma, mas não propriedades materiais; já que estas são primeiramente representadas pelas proposições — primeiramente formadas pela configuração dos objetos.
2.0232 Aproximadamente falando: os objetos são desprovidos de côr.
2.0233 Dois objetos de mesma forma lógica — abstraindo suas propriedades externas — se diferenciam um do outro apenas por serem distintos.
2.02331 Ou uma coisa possui propriedades que nenhuma outra possui e dêsse modo é possível sem mais separá-la de outras por uma descrição e referir-se a ela; ou, ao contrário, existem várias coisas que possuem tôdas suas propriedades em comum, sendo então impossível em geral indicar uma delas.
Se a coisa não se distingue por nada, não posso então distingui-la, pois do contrário estaria distinguida.
2.024 Substância é o que subsiste independentemente do que ocorre.
2.025 Ela é forma e conteúdo.
2.0251 Espaço, tempo e côr (coloridade) são formas dos objetos.
2.026 Só se houver objetos, pode haver forma fixa do mundo.
2.027 O fixo, o subsistente e o objeto são um só.
2.0271 O objeto é o fixo, o subsistente; a configuração é o mutável, o instável.
2.0272 A configuração dos objetos forma o estado de coisas.
2.03 No estado de coisas os objetos se ligam uns aos outros como elos de uma cadeia.
2.031 No estado de coisas os objetos estão uns em relação aos outros de um modo determinado.
2.032 O modo pelo qual os objetos se vinculam no estado de coisas constitui a estrutura do estado de coisas.
2.033 A forma é a possibilidade da estrutura.
2.034 A estrutura do fato é constituída pelas estruturas dos estados de coisas.
2.04 A totalidade dos subsistentes estados de coisas é o mundo.
2.05 A totalidade dos subsistentes estados de coisas determina também quais estados de coisas não subsistem.
2.06 A subsistência e a não-subsistência dos estados de coisas é a realidade.
(Chamamos de fato positivo à subsistência de estados de coisas e de negativo à não-subsistência dêles.)
2.061 Os estados de coisas são independentes uns dos outros.
2.062 Da subsistência ou da não-subsistência de um estado de coisas não é possível concluir a subsistência ou a não-subsistência de outro.
2.063 A realidade inteira é o mundo.
2.1 Fazemo-nos figurações dos fatos.
2.11 A figuração presenta a situação no espaço lógico, a subsistência e a não-subsistência de estados de coisas.
2.12 A figuração é um modêlo da realidade.
2.13 Na figuração, seus elementos correspondem aos objetos.
2.131 Os elementos da figuração substituem nela os objetos.
2.14 A figuração consiste em que seus elementos estão uns em relação aos outros de um modo determinado.
2.141 A figuração é um fato.
2.15 Os elementos da figuração estando uns em relação aos outros de um modo determinado, isto representa as coisas estando umas em relação às outras.
Esta vinculação dos elementos da figuração chama-se sua estrutura e a possibilidade dela, sua forma de afiguração.
2.151 A forma de afiguração é a possibilidade de que as coisas estejam umas em relação às outras como os elementos da figuração.
2.1511 A figuração enlaça-se com a realidade; dêste modo: estendendo-se para ela.
2.1512 É como padrão de medida que se aplica à realidade.
2.15121 Sòmente os pontos mais exteriores das linhas divisórias tocam o objeto a ser medido.
2.1513 Segundo essa concepção, também pertence à figuração a forma afigurante que precisamente a torna figuração.
2.1514 A relação afigurante consiste nas coordenações dos elementos da figuração e das coisas.
2.1515 Estas coordenações são, por assim dizer, antenas dos elementos da figuração, com as quais esta toca a realidade.
2.16 Os fatos, para serem figuração, devem ter algo em comum com o que é afigurado.
2.161 Deve haver algo idêntico na figuração e no afigurado a fim de que um possa ser a figuração do outro.
2.17 O que a figuração deve ter em comum com a realidade para poder afigurar à sua maneira — correta ou falsamente — é sua forma de afiguração.
2.171 A figuração pode afigurar qualquer realidade cuja forma ela possui.
A figuração espacial, tudo o que é espacial; a colorida, tudo que é colorido, etc.
2.172 Sua forma de afiguração, contudo, a figuração não pode afigurar; apenas a exibe.
2.173 A figuração representa seu objeto de fora (seu ponto de vista é sua forma de representação), por isso a figuração representa seu objeto correta ou falsamente.
2.174 A figuração não pode, porém, colocar-se fora de sua forma de representação.
2.18 O que cada figuração, de forma qualquer, deve sempre ter em comum com a realidade para poder afigurá-la em geral — correta ou falsamente — é a forma lógica, isto é, a forma da realidade.
2.181 Se a forma da afiguração é a forma lógica, a figuração chama-se lógica.
2.182 Tôda figuração também é lógica. (No entanto, nem tôda figuração é, por exemplo, espacial.)
2.19 A figuração lógica pode afigurar o mundo.
2.2 A figuração tem em comum com o afigurado a forma lógica da afiguração.
2.201 A figuração afigura a realidade, pois representa uma possibilidade da subsistência e da não-subsistência de estados de coisas.
2.202 A figuração representa uma situação possível no espaço lógico.
2.203 A figuração contém a possibilidade da situação, a qual ela representa.
2.21 A figuração concorda ou não com a realidade, é correta ou incorreta, verdadeira ou falsa.
2.22 A figuração representa o que representa, independentemente de sua verdade ou falsidade, por meio da forma da afiguração.
2.221 O que a figuração representa é o seu sentido.
2.222 Na concordância ou na discordância de seu sentido com a realidade consiste sua verdade ou sua falsidade.
2.223 Para reconhecer se uma figuração é verdadeira ou falsa devemos compará-la com a realidade.
2.224 Não é possível reconhecer apenas pela figuração se ela é verdadeira ou falsa.
2.225 Não existe uma figuração a priori verdadeira.
3 Pensamento é a figuração lógica dos fatos.
3.001 “Um estado de coisas é pensável” significa: podemos construir-nos uma figuração dêle.
3.01 A totalidade dos pensamentos verdadeiros é figuração do mundo.
3.02 O pensamento contém a possibilidade da situação que êle pensa. O que é pensável também é possível.
3.03 Não podemos pensar nada ilógico, porquanto, do contrário, deveríamos pensar ilògicamente.
3.031 Já foi dito por alguém que Deus poderia criar tudo, salvo o que contrariasse as leis lógicas. Isto porque não podemos dizer como pareceria um mundo “ilógico”.
3.032 Representar na linguagem algo que “contrarie as leis lógicas” é tão pouco possível como representar, na geometria, por meio de suas coordenadas, uma figura que contrarie as leis do espaço; ou, então, dar as coordenadas de um ponto inexistente.
3.0321 Podemos perfeitamente representar um estado de coisas espacial contrário às leis da física, nunca, porém, contrário às leis da geometria.
3.04 Um pensamento correto a priori seria aquêle cuja possibilidade condicionasse sua verdade.
3.05 Desse modo, só poderíamos conhecer a priori que um pensamento é verdadeiro se a verdade dêle fôsse reconhecível a partir do próprio pensamento (sem objeto de comparação).
3.1 Na proposição o pensamento se exprime sensível e perceptivelmente.
3.11 Utilizamos o signo sensível e perceptível (signo sonoro ou escrito, etc.) da proposição como projeção da situação possível.
O método de projeção é o pensar do sentido da proposição.
3.12 Chamo signo proposicional o signo pelo qual exprimimos o pensamento. E a proposição é o signo proposicional em sua relação projetiva com o mundo.
3.13 À proposição pertence tudo que pertence à projeção, não, porém, o que é projetado.
Portanto, a possibilidade do que é projetado, não, porém, êste último.
A proposição, portanto, não contém seu sentido, mas a possibilidade de exprimi-lo.
(“O conteúdo da proposição” quer dizer o conteúdo da proposição significativa.)
Está contida na proposição a forma de seu sentido, não, porém, seu conteúdo.
3.14 O signo proposicional consiste em que seus elementos, as palavras, estão relacionados uns aos outros de maneira determinada.
O signo proposicional é um fato.
3.141 A proposição não é uma mistura de palavras. (Do mesmo modo que o tema musical não é uma mistura de sons.)
A proposição é articulada.
3.142 Sòmente fatos podem exprimir um sentido, uma classe de nomes não o pode.
3.143 Que um signo proposicional seja um fato, isto é velado pela forma comum de expressão, escrita ou impressa.
Na proposição impressa, por exemplo, o signo proposicional não parece essencialmente diferente da palavra.
(Foi assim possível a Frege chamar à proposição de nome composto.)
3.1431 A essência do signo proposicional se torna muito clara quando, em vez de o pensarmos composto de signos escritos, o pensamos composto de objetos espaciais (tais como mesas, cadeiras, livros).
A posição espacial oposta dessas coisas exprime, pois, o sentido da proposição.
3.1432 Não: “O signo complexo ‘aRb’ diz que a por R se relaciona com b”, mas: que “a” por um certo R se relaciona com “b”, isto quer dizer que aRb.
3.144 É possível descrever situações, impossível no entanto nomeá-las.
(Os nomes são como pontos, as proposições, flechas; possuem sentido.)
3.2 Nas proposições os pensamentos podem ser expressos de tal modo que aos objetos dos pensamentos correspondam elementos do signo proposicional.
3.201 A êsses elementos chamo de “signos simples” e à proposição, “completamente analisada”.
3.202 Os signos simples empregados nas proposições são chamados nomes.
3.203 O nome denota o objeto. O objeto é sua denotação. (“A” é o mesmo signo que “A”.)
3.21 À configuração dos signos simples no signo proposicional corresponde a configuração dos objetos na situação.
3.22 Na proposição o nome substitui o objeto.
3.221 Posso nomear apenas objetos. Os signos os substituem. Posso apenas falar sôbre êles, não posso, porém, enunciá-los. Uma proposição pode apenas dizer como uma coisa é, mas não o que é.
3.23 Postular a possibilidade de signos simples é postular a determinabilidade do sentido.
3.24 A proposição que trata de um complexo acha-se numa relação interna com a proposição que trata das partes constituintes dêle.
O complexo só pode ser dado por sua descrição, e esta concordará ou não concordará com êle. A proposição que se ocupa de um complexo inexistente não será absurda, mas simplesmente falsa.
Que um elemento proposicional designa um complexo, isto pode ser visto graças a uma indeterminabilidade na proposição na qual êle aparece. Sabemos por esta proposição que nem tudo está determinado. (A designação da universalidade já contém, com efeito, uma protofiguração.)
A reunião dos símbolos de um complexo em um símbolo simples pode ser expressa por uma definição.
3.25 Existe apenas uma e uma única análise completa da proposição.
3.251 A proposição exprime o que é expresso de um modo determinado e dado claramente: A proposição é articulada.
3.26 O nome não é para ser desmembrado ademais por uma definição: é um signo primitivo.
3.261 Cada signo definido designa por sôbre os signos pelos quais é definido, e as definições mostram o caminho.
Dois signos, um signo primitivo e outro definido por signos primitivos, não podem designar pela mesma maneira. Nomes não podem ser decompostos por definições. (Nenhum signo isolado e autônomo possui denotação.)
3.262 O que no signo não vem expresso é indicado pela aplicação. O que os signos escondem, a aplicação exprime.
3.263 As denotações dos signos primitivos podem ser esclarecidas por elucidações. Elucidações são proposições que contêm os signos primitivos. Só podem, portanto, ser entendidas quando já se conhecem as denotações dêsses signos.
3.3 Só a proposição possui sentido; só em conexão com a proposição um nome tem denotação.
3.31 A cada parte da proposição que caracteriza um sentido chamo de expressão (símbolo).
(A própria proposição é uma expressão.)
A expressão é tudo que, sendo essencial para o sentido da proposição, as proposições podem ter em comum entre si.
A expressão caracteriza uma forma e um conteúdo.
3.311 A expressão pressupõe as formas de tôdas as proposições nas quais pode aparecer. Constitui a marca característica comum a uma classe de proposições.
3.312 Representa-se, pois, por intermédio da forma geral das proposições que a caracteriza.
E assim a expressão será, nesta forma, constante e todo o resto, variável.
3.313 A expressão será representada por uma variável, cujos valores são as proposições que contêm a expressão.
(No caso limite, a variável torna-se constante, a expressão, a proposição.)
A uma tal variável chamo de “variável proposicional”.
3.314 A expressão tem denotação apenas na proposição. Cada variável pode ser concebida como variável proposicional.
(A variável nome também.)
3.315 Se transformarmos uma parte constituinte de uma proposição numa variável, existe então uma classe de proposições constituída por todos os valôres da proposição variável assim resultante. Esta classe ainda depende em geral do que nós, segundo um ajuste arbitrário, chamamos partes da proposição. Se, no entanto, transformarmos todos aquêles signos, cujas denotações foram determinadas arbitràriamente, em variáveis, ainda continua a existir aquela classe. Esta, porém, não mais depende de qualquer ajuste, mas ùnicamente da natureza da proposição. Corresponde a uma forma lógica — a uma protofiguração lógica.
3.316 Fixam-se os valôres que a variável proposicional deve tomar.
A fixação dos valôres é a variável.
3.317 A fixação dos valôres das variáveis proposicionais consiste na indicação das proposições, as quais têm como marca característica comum a variável.
A fixação é uma descrição dessas proposições.
A fixação se ocupará, pois, ùnicamente dos símbolos, não se ocupando de sua denotação.
E para a fixação é essencial ser apenas uma descrição de símbolos, nada assertando sôbre o designado. Como se dá a descrição da proposição é inessencial.
3.318 Concebo a proposição — do mesmo modo que Frege e Russell — como função das expressões que nela estão contidas.
3.32 O signo é o que no símbolo é sensivelmente perceptível.
3.321 Dois símbolos diferentes podem ter, pois, em comum o mesmo signo (escrito ou sonoro, etc.) — designam dêsse modo de diferentes maneiras.
3.322 A marca característica comum a dois objetos nunca pode indicar que os designamos com o mesmo signo, embora com diferentes modos de designação; porquanto o signo, sem dúvida, é arbitrário. Poderíamos, portanto, escolher dois signos diferentes, e onde permaneceria o que é comum na designação?
3.323 Na linguagem corrente amiúde acontece que a mesma palavra designa de modos diferentes — pertencendo, pois, a símbolos diferentes — ou ainda duas palavras, que designam de modos diferentes, são empregadas na proposição superficialmente da mesma maneira.
Assim a palavra “é” aparece como cópula, como sinal de igualdade e expressão da existência; “existir”, enquanto verbo intransitivo do mesmo modo que “ir”; “idêntico”, enquanto adjetivo: falamos a respeito de algo, mas também de que algo acontece.
(Na proposição “Rosa é rosa” (“Grün ist grün”) — onde a primeira palavra é nome de pessoa e a última é adjetivo — ambas as palavras não têm apenas denotações diferentes, mas constituem símbolos diferentes.)
3.324 Nascem, assim, as confusões mais fundamentais (de que tôda a filosofia está plena).
3.325 Para evitar êsses erros devemos usar uma linguagem simbólica que os exclua, pois esta não empregará superficialmente o mesmo signo para símbolos diferentes, e não empregará signos, que designam de maneira diversa, do mesmo modo. Uma linguagem simbólica, portanto, que obedeça à gramática lógica — à sintase lógica.
(A ideografia de Frege, ou a de Russell, constitui uma tal linguagem que, no entanto, não elimina todos os erros.)
3.326 Para reconhecer o símbolo no signo deve-se atentar para seu uso significativo.
3.327 O signo determina uma forma lógica sòmente junto de sua utilização lógico-sintática.
3.328 Se um signo não tem serventia, então êle é desprovido de denotação. Êste é o sentido do lema de Occam.
(Se tudo se passa como se um signo tivesse denotação, então êle a terá.)
3.33 Na sintaxe lógica a denotação de um signo não há de desempenhar papel algum, a sintaxe deve elaborar-se sem que surja a preocupação com a denotação, devendo pressupor apenas a descrição das expressões.
3.331 Feita esta observação, consideremos a Theory of types de Russell: o êrro dêste se revela quando, ao elaborar as regras dos signos, teve de apelar para a denotação dêsses signos.
3.332 Nenhuma proposição pode assertar algo sôbre si mesma, pois o signo proposicional não pode estar contido em si mesmo (aí está tôda a Theory of types).
3.333 Uma função por isso não pode ser seu próprio argumento, pois o signo da função já contém a protofiguração de seu argumento, e não contém a si própria.
Tomemos, por exemplo, a função F(fx) podendo ser seu próprio argumento; haveria então uma proposição “F(F(fx))”, em que a função externa F e a interna F teriam denotações diferentes; a interna tendo como forma ϕ(fx), a externa, ψ(ϕ(fx)). Ambas as funções têm em comum apenas a letra “F” que nada designa.
Isto se torna claro logo que, em vez de “F(F(u))”, escrevemos “(∃ϕ) : F(ϕu) . ϕu = Fu”.
Isto liquida o paradoxo de Russell.
3.334 As regras da sintaxe lógica devem ser entendidas de per si, desde que se saiba apenas como cada signo designa.
3.34 A proposição possui traços essenciais e acidentais.
Acidentais são os traços que derivam da maneira particular de produzir o signo proposicional; essenciais, aquêles que sòzinhos tornam a proposição capaz de exprimir seu sentido.
3.341 É pois essencial na proposição o que é comum a tôdas as proposições que podem exprimir o mesmo sentido.
E do mesmo modo é em geral essencial no símbolo o que é comum a todos os símbolos que podem preencher o mesmo fim.
3.3411 Seria então possível dizer: o nome autêntico é aquilo que todos os símbolos que designam o objeto têm em comum. Daí resultaria paulatinamente que nenhuma composição é essencial para o nome.
3.342 Há com efeito em nossa notação algo arbitrário, mas o seguinte não o é: se determinarmos algo arbitràriamente, então algo a mais deve ocorrer. (Isto depende da essência da notação.)
3.3421 Um modo particular de designação pode ser desimportante, mas é sempre importante que seja um modo possível de designação. Esta é a situação na filosofia em geral: o singular se manifesta repetidamente como desimportante, mas a possibilidade de cada singular nos dá um esclarecimento sôbre a essência do mundo.
3.343 Definições são regras para a tradução de uma linguagem a outra. Cada linguagem simbólica correta deve deixar-se traduzir numa outra segundo tais regras: isto é tudo o que elas têm em comum.
3.344 O que designa no símbolo é o que é comum a todos os símbolos pelos quais o primeiro pode ser substituído de acordo com as regras da sintaxe lógica.
3.3441 É possível, por exemplo, exprimir do seguinte modo o que é comum a tôdas as notações para as funções de verdade: é-lhes comum, por exemplo, poderem ser substituídas pela notação “∼p” (“não p”) e “p ∨ q” (“p ou q”).
(Com isso se indica a maneira pela qual uma notação especialmente possível nos pode dar esclarecimentos gerais.)
3.3442 O signo do complexo não se divide pela análise arbitràriamente, de modo que sua divisão fôsse diferente em cada construção proposicional.
3.4 A proposição determina um lugar no espaço lógico. A existência dêsse espaço lógico é assegurada apenas pela existência das partes constitutivas, pela existência das proposições significativas.
3.41 O signo proposicional e as coordenadas lógicas: é isto o lugar lógico.
3.411 O lugar geométrico e o lógico concordam em que ambos consistem na possibilidade de uma existência.
3.42 Se bem que a proposição deva determinar apenas um lugar do espaço lógico, o espaço lógico inteiro já deve ser dado por ela.
(Em caso contrário, novos elementos — em coordenação — sempre se introduziriam por meio da negação, da soma lógica, do produto lógico, etc.)
(O andaime lógico em volta da figuração determina o espaço lógico. A proposição apanha o espaço lógico inteiro.)
3.5 O signo proposicional empregado e pensado é o pensamento.
4 O pensamento é a proposição significativa.
4.001 A totalidade das proposições é a linguagem.
4.002 O homem possui a capacidade de construir linguagens nas quais cada sentido se deixa exprimir, sem contudo pressentir como e o que cada palavra denota. — Assim se fala sem saber como os sons singulares são produzidos.
A linguagem corrente forma parte do organismo humano e não é menos complicada do que êle.
É humanamente impossível de imediato apreender dela a lógica da linguagem.
A linguagem veda o pensamento; do mesmo modo, não é possível concluir, da forma exterior da veste, a forma do pensamento vestido por ela, porquanto a forma exterior da veste não foi feita com o intuito de deixar conhecer a forma do corpo.
Os acordos silenciosos para entender a linguagem corrente são enormemente complicados.
4.003 A maioria das proposições e questões escritas sôbre temas filosóficos não são falsas mas absurdas. Por isso não podemos em geral responder a questões dessa espécie, apenas estabelecer seu caráter absurdo. A maioria das questões e das proposições dos filósofos se apóiam, pois, no nosso desentendimento da lógica da linguagem.
(São questões da seguinte espécie: o bem é mais ou menos idêntico do que a beleza?)
Não é, pois, de admirar que os mais profundos problemas não constituam pròpriamente problemas.
4.0031 Tôda filosofia é “crítica da linguagem”. (Por certo, não no sentido de Mauthner). O mérito de Russell é ter mostrado que a forma aparentemente lógica da proposição não deve ser sua forma real.
4.01 A proposição é figuração da realidade.
A proposição é modêlo da realidade tal como a pensamos.
4.011 À primeira vista, a proposição — em particular tal como está impressa no papel — não parece ser figuração da realidade de que trata. Mas tampouco a escrita musical parece à primeira vista ser figuração da música, e nossa escrita fonética (letras), figuração da linguagem falada.
No entanto, essas linguagens simbólicas se manifestam, também no sentido comum, como figurações do que representam.
4.012 É óbvio que percebemos como figuração uma proposição da forma “aRb”. Aqui o signo é òbviamente um símile do designado.
4.013 E quando entramos no que é essencial dessa figuratividade vemos que ela não é perturbada por aparentes irregularidades (como o emprego de ♯ e de ♭ na escrita musical).
Porquanto também essas irregularidades afiguram o que devem expressar, apenas de outra maneira.
4.014 O disco da vitrola, o pensamento e a escrita musicais, as ondas sonoras estão uns em relação aos outros no mesmo relacionamento existente entre a linguagem e o mundo.
A todos é comum a construção lógica.
(Como na estória dos dois jovens, seus dois cavalos e seus lírios. Num certo sentido, todos são um.)
4.0141 Que exista uma regra geral por meio da qual o músico possa apreender a sinfonia a partir da partitura, regra por meio da qual se possa derivar a sinfonia das linhas do disco e ainda, segundo a primeira regra, de nôvo derivar a partitura; nisto consiste pròpriamente a semelhança interna dessas figuras aparentemente tão diversas. E essa regra é a lei de projeção que projeta a sinfonia na linguagem musical. É a regra da tradução da linguagem musical para a linguagem do disco.
4.015 A possibilidade de todos êsses símiles, a figuratividade inteira de nosso modo de expressão, se apóia na lógica da afiguração.
4.016 Para compreender a essência da proposição, convém pensar na escrita hieroglífica que afigura os fatos que descreve.
E dela provém o alfabeto sem perder o que é essencial na afiguração.
4.02 Isto se vê ao entendermos o sentido do signo proposicional sem que êle nos tenha sido explicado.
4.021 A proposição é figuração da realidade; pois conheço a situação representada por ela quando entendo a proposição. E entendo a proposição sem que o sentido me seja explicado.
4.022 A proposição mostra seu sentido.
A proposição mostra, se fôr verdadeira, como algo está. E diz que isto está assim.
4.023 Por meio da proposição a realidade deve ser fixada enquanto sim ou enquanto não.
Por isso deve ser completamente descrita por ela.
A proposição é a descrição de um estado de coisas.
Assim como a descrição de um objeto se dá segundo suas propriedades externas, a proposição descreve a realidade segundo suas propriedades internas.
A proposição constrói o mundo com a ajuda de andaimes lógicos, e por isso é possível, na proposição, também se ver, caso ela fôr verdadeira, como tudo que é lógico está. Pode-se de uma proposição falsa tirar conclusões.
4.024 Compreender uma proposição é saber o que ocorre, caso ela fôr verdadeira.
(É possível, pois, compreendê-la sem saber se é verdadeira.)
Ela será compreendida, caso se compreenda suas partes constituintes.
4.025 A tradução de uma linguagem para outra não se dá como se se traduzisse cada proposição de uma numa proposição da outra, mas sòmente as partes da proposição são traduzidas.
(E o dicionário não traduz apenas substantivos, mas ainda verbos, adjetivos, conectivos, etc.; e trata-os todos de modo igual.)
4.026 As denotações dos signos simples (das palavras) nos devem ser explicadas para que as compreendamos.
Com as proposições, no entanto, compreendemo-nos a nós mesmos.
4.027 Está na essência da proposição poder comunicar-nos um nôvo sentido.
4.03 Uma proposição deve comunicar nôvo sentido com velhas expressões.
A proposição nos comunica uma situação, de sorte que deve estar essencialmente vinculada a ela.
E a vinculação consiste precisamente em que ela é sua figuração lógica.
A proposição só asserta algo enquanto é figuração.
4.031 Uma situação é justaposta à proposição, por assim dizer, por tentativas.
É possível dizer diretamente: esta proposição representa esta ou aquela situação, em vez de esta proposição tem êste ou aquêle sentido.
4.0311 Um nome presenta uma coisa, outro, outra coisa, e estão ligados entre si de tal modo que o todo — como quadro vivo (ein lebendes Bild) — presenta o estado de coisas.
4.0312 A possibilidade da proposição se estriba no princípio da substituição dos objetos por meio de signos.
Meu pensamento basilar é que as “constantes lógicas” nada substituem; que a lógica dos fatos não se deixa substituir.
4.032 A proposição é uma figuração da situação ùnicamente enquanto fôr lògicamente articulada.
(Também a proposição Ambulo é composta, pois sua raiz com outra desinência nos dá outro sentido, o mesmo acontecendo se esta desinência estiver com outra raiz.)
4.04 Tanto se distinguirá na proposição quanto na situação que ela representa.
Ambos devem possuir a mesma multiplicidade lógica (matemática). (Cf. a mecânica de Hertz a propósito dos modelos dinâmicos.)
4.041 Esta multiplicidade matemática não pode naturalmente ser de nôvo afigurada. Ao afigurar não é possível colocar-se fora dela.
4.0411 Se quiséssemos, por exemplo, exprimir o que é expresso por “(x) . fx” apondo um índice junto a “fx”, a saber: “Univ. fx”, isto não bastaria — não saberíamos o que foi universalizado. Se quiséssemos indicá-lo por um índice “α” — tal como “f(xα)”, isto também não bastaria — não conheceríamos o escopo da designação da universalidade.
Se quiséssemos tentar graças à introdução de uma marca no lugar do argumento — por exemplo: “(A, A) . F(A, A)” —, isto também não bastaria, pois não poderíamos fixar a identidade das variáveis. E assim por diante.
Todos êsses modos de designação não bastam, porquanto não possuem a necessária multiplicidade matemática.
4.0412 Pelo mesmo motivo não basta a explicação idealista da visão das relações espaciais por meio de “óculos espaciais”, já que êstes não podem explicar a multiplicidade que essas relações possuem.
4.05 Compara-se a realidade com a proposição.
4.06 Sòmente por isso a proposição pode ser verdadeira ou falsa, quando ela é uma figuração da realidade.
4.061 Se não se observar que uma proposição possui sentido independente dos fatos, então fàcilmente se acredita que o verdadeiro e o falso são relações eqüiponderantes entre signos e designado.
Seria então possível dizer, por exemplo, que “p” designa segundo a modalidade do verdadeiro o que “∼p”, segundo a modalidade do falso, etc.
4.062 Não seria possível fazer-se entender com proposições falsas assim como se fêz até agora com verdadeiras; desde que se soubesse que são mentadas falsamente? Não! Porquanto uma proposição é verdadeira se a situação é tal como dizemos por seu intermédio, e se com “p” mentássemos “∼p” e se a situação fôsse tal como a mentamos, então “p” não seria falso na nova concepção mas verdadeiro.
4.0621 É importante, porém, que os signos “p” e “∼p” possam dizer a mesma coisa, pois isto mostra que. o signo “∼” a nada corresponde na realidade.
A negação aparecer numa proposição não é marca característica de seu sentido (∼∼p = p).
As proposições “p” e “∼p” têm sentido oposto, mas a elas corresponde uma e a mesma realidade.
4.063 Afiguremo-nos um exemplo para esclarecer o conceito de verdade: dada uma mancha preta num papel branco; pode-se descrever a forma da mancha indicando para cada ponto dela se é branco ou prêto. Ao fato de que um ponto seja prêto corresponde um fato positivo; de que um ponto seja branco (não-prêto) corresponde um fato negativo. Se designo um ponto da superfície (um valor de verdade, segundo Frege), então isto corresponde à assunção estabelecida pelo julgamento, etc., etc.
Para poder dizer que um ponto é prêto ou branco antes devo saber quando lhe chamo de branco e quando de prêto — para poder dizer “p” é verdadeiro (ou falso) devo ter determinado em que condições chamo “p” verdadeiro e, dêsse modo, determino o sentido da proposição.
O símile falha apenas no ponto seguinte: podemos indicar um ponto do papel sem saber o que seja branco e o que seja prêto; uma proposição sem sentido, porém, não corresponde a nada, pois não designa coisa alguma (valor de verdade) cujas propriedades fôssem chamadas “falsas” ou “verdadeiras” — o verbo de uma proposição não é “é verdadeiro” ou “é falso”, como acreditava Frege, mas o verbo já deve conter o que “é verdadeiro”.
4.064 Cada proposição já deve possuir um sentido; a afirmação não lho pode dar pois afirma precisamente o sentido. E o mesmo vale para a negação, etc.
4.0641 É possível dizer: a negação já se reporta ao lugar lógico determinado pela proposição negada.
A proposição negadora determina outro lugar lógico do que a negada.
A proposição negadora determina um lugar lógico com a ajuda do lugar lógico da proposição negada, quando descreve aquêle permanecendo fora dêste.
Poder negar de nôvo a proposição negada mostra que o que é negado já é uma proposição, não sendo a mera preparação de uma proposição.
4.1 A proposição representa a subsistência e a não-subsistência dos estados de coisas.
4.11 A totalidade das proposições verdadeiras é tôda a ciência da natureza (ou a totalidade das ciências naturais).
4.111 A filosofia não é ciência da natureza.
(A palavra “filosofia” deve denotar alguma coisa que se coloca acima ou abaixo mas não ao lado das ciências naturais.)
4.112 A finalidade da filosofia é o esclarecimento lógico dos pensamentos.
A filosofia não é teoria mas atividade.
Uma obra filosófica consiste essencialmente em comentários.
A filosofia não resulta em “proposições filosóficas” mas em tornar claras as proposições.
A filosofia deve tomar os pensamentos que, por assim dizer, são vagos e obscuros e torná-los claros e bem delimitados.
4.1121 A psicologia não é mais aparentada à filosofia do que qualquer outra ciência natural.
A teoria do conhecimento é a filosofia da psicologia.
Não corresponde meu estudo sôbre a linguagem simbólica ao estudo dos processos do pensamento, os quais os filósofos consideram tão essencial para a filosofia da lógica? Êles apenas se confundem na maior parte com investigações psicológicas inessenciais, existindo um perigo análogo para meu método.
4.1122 A teoria de Darwin não tem mais a ver com a filosofia do que qualquer outra hipótese das ciências naturais.
4.113 A filosofia delimita o domínio contestável das ciências naturais.
4.114 Deve delimitar o pensável e com isso o impensável.
Deve demarcar o impensável do interior por meio do pensável.
4.115 Denotará o indizível, representando claramente o dizível.
4.116 Tudo em geral o que pode ser pensado o pode claramente. Tudo que se deixa exprimir, deixa-se claramente.
4.12 A proposição pode representar a realidade inteira, não pode, porém, representar o que ela deve ter em comum com a realidade para poder representá-la — a forma lógica.
Para podermos representar a forma lógica seria preciso nos colocar, com a proposição, fora da lógica; a saber, fora do mundo.
4.121 A proposição não pode representar a forma lógica, esta espelha-se naquela.
Não é possível representar o que se espelha na linguagem.
O que se exprime na linguagem não podemos expressar por meio dela.
A proposição mostra a forma lógica da realidade.
Ela a exibe.
4.1211 Dêsse modo, a proposição “fa” mostra que o objeto a aparece em seu sentido, duas proposições “fa” e “ga” que em ambas se trata do mesmo objeto.
Se duas proposições se contradizem, isto é mostrado por sua estrutura; do mesmo modo, quando uma se segue da outra. E assim por diante.
4.1212 O que pode ser mostrado não pode ser dito.
4.1213 Agora compreendemos nosso sentimento de que estamos de posse de uma concepção lógica correta sòmente quando tudo esteja conforme em nossa linguagem simbólica.
4.122 Podemos em certo sentido falar de propriedades formais de objetos e estados de coisas, em particular de propriedades da estrutura dos fatos, e no mesmo sentido de relações formais e de relações de estruturas.
(Em lugar de propriedade da estrutura falo também de “propriedade interna”, em lugar de relação de estruturas, “relação interna”.
Introduzo essas expressões para mostrar o fundamento da confusão, muito difundida no meio dos filósofos, entre relações internas e relações pròpriamente ditas (externas).)
A subsistência de tais propriedades e de tais relações internas não pode ser, todavia, afirmada por proposições, mas se mostra nas proposições que apresentam os estados de coisas e os objetos em questão.
4.1221 A uma propriedade interna de um fato podemos ainda chamar de traço dêsse fato. (No sentido em que falamos, por exemplo, de traços faciais.)
4.123 Uma propriedade é interna quando fôr impensável que seu objeto não a possua.
(Esta côr azul e aquela estão na relação interna de mais claro e eo ipso mais escuro. É impensável êstes dois objetos não estarem nesta relação.)
(Ao emprego impreciso das palavras “propriedade” e “relação” corresponde aqui o emprêgo impreciso da palavra “objeto”.)
4.124 A subsistência de uma propriedade interna de uma situação possível não se expressa por uma proposição mas, na proposição que a representa, por uma propriedade interna desta proposição.
Seria, pois, absurdo tanto imputar como não imputar à proposição uma propriedade formal.
4.1241 Não se podem distinguir as formas umas das outras dizendo que uma tem esta propriedade e aquela, outra, pois isto pressupõe que teria sentido assertar ambas propriedades de ambas as formas.
4.125 A subsistência de uma relação interna entre situações possíveis exprime-se lingüìsticamente por meio de uma relação interna entre as proposições que as representam.
4.1251 Isto liquida a disputa “se tôdas as relações são internas ou externas”.
4.1252 Às séries ordenadas por relações internas chamo de séries formais.
A série dos números não se ordena segundo uma relação externa, mas segundo uma relação interna.
Da mesma maneira, a série de proposições “aRb”,
“(∃x) : aRx . xRb”,
“(∃x, y) : aRx . xRy . yRb”, e assim por diante.
(Estando b numa dessas relações com a, chamo-lhe de sucessor de a.)
4.126 No mesmo sentido em que falamos de propriedades formais, podemos também nos referir a conceitos formais.
(Introduzo essa expressão com o intuito de deslindar a confusão dos conceitos formais com os conceitos autênticos, que perpassa tôda a velha lógica.)
Não é possível exprimir por uma proposição que algo caia sob um conceito formal como um objeto dêle. Isto se mostra, porém, no signo dêsse próprio objeto. (O nome mostra que designa um objeto, os signos numéricos, que designam um número, etc.)
Os conceitos formais não podem, pois, como os conceitos pròpriamente ditos, ser representados por uma função.
Porquanto suas marcas características, as propriedades formais, não se representam por funções.
A expressão da propriedade formal é um traço de certos símbolos.
O signo das marcas características de um conceito formal é um traço próprio a todos os símbolos, cujas denotações caem sob o conceito.
A expressão do conceito formal é uma variável proposicional, em que apenas êste traço próprio é constante.
4.127 A variável proposicional designa o conceito formal, e seus valôres, os objetos que caem sob êsse conceito.
4.1271 Cada variável é signo de um conceito formal.
Porquanto cada variável representa uma forma constante que todos os seus valôres possuem, e que pode ser concebida como a propriedade formal dêsses valôres.
4.1272 De sorte que a variável nome “x” é o signo apropriado ao pseudoconceito objeto.
Sempre que a palavra “objeto” (“coisa”, etc.) fôr corretamente empregada, será expressa na ideografia pela variável nome.
Por exemplo, na proposição “Há dois objetos que...”, por “(∃x, y)...”.
Sempre, contudo, que fôr empregada de outra maneira, a saber, como palavra de um conceito propriamente dito, nascem pseudoproposições absurdas.
Não se pode dizer, por exemplo, “Há objetos” como se diz “Há livros”. Nem tampouco “Há 100 objetos” ou “Há ℵ0 objetos”.
E é absurdo falar do número de todos os objetos.
O mesmo vale para as palavras “complexo”, “fato”, “função”, “número”, etc.
Tôdas designam conceitos formais e são representadas na ideografia por variáveis e não por funções ou classes. (Como Frege e Russell acreditavam.)
Expressões como “1 é um número”, “Há apenas um zero” e tôdas as outras semelhantes são absurdas.
(É, pois, absurdo dizer “Há apenas um 1”, tanto quanto seria absurdo dizer: 2 + 2 é às 3 horas igual a 4.)
4.12721 O conceito formal já está dado com um objeto que cai sob êle. Não se pode, portanto, introduzir como conceitos fundamentais objetos de um conceito formal e ainda o próprio conceito formal. Não se pode, por exemplo, introduzir o conceito de função e ainda funções especiais (como Russell) na qualidade de conceitos fundamentais; ou também o conceito de número e números determinados.
4.1273 Se quisermos exprimir, na ideografia, a proposição universal: “b é sucessor de a”, precisamos de uma expressão para o têrmo geral da série formal: aRb ; (∃x) : aRx . xRb ; (∃x, y) : aRx . xRy . yRb, ... Só é possível exprimir o têrmo universal de uma série formal por meio de uma variável, pois o conceito: membro de uma série formal, é um conceito formal. (A isso desatentaram Frege e Russell; a maneira pela qual pretendem exprimir proposições universais, como a mencionada, é por isso falsa, contendo um circulus vitiosus.)
Podemos determinar o têrmo universal da série formal dando seu primeiro têrmo e a forma geral da operação que gera o têrmo seguinte a partir da proposição precedente.
4.1274 É absurda a pergunta pela existência de um conceito formal, pois não há proposição que possa respondê-la.
(Não é possível, por exemplo, perguntar: “Há proposições sujeito-predicado inanalisáveis?”)
4.128 As formas lógicas são anuméricas.
De sorte que não há na lógica números excelentes, não havendo monismo ou dualismo filosófico, etc.
4.2 O sentido de uma proposição é sua concordância ou sua discordância com a possibilidade da subsistência ou não-subsistência de estados de coisas.
4.21 A proposição mais simples, a proposição elementar, afirma a subsistência de um estado de coisas.
4.211 É um signo da proposição elementar que nenhuma outra possa estar em contradição com ela.
4.22 A proposição elementar é constituída de nomes. É uma conexão, um encadeamento de nomes.
4.221 É óbvio que, graças à análise da proposição, devemos chegar a proposições elementares que consistam de nomes numa vinculação imediata.
Pergunta-se aqui como se dá o vínculo proposicional.
4.2211 Ainda que o mundo fôsse infinitamente complexo, de modo que cada fato fôsse constituído por muitos estados de coisas ao infinito e cada estado de coisas composto por muitos objetos ao infinito, mesmo assim deveria haver objetos e estados de coisas.
4.23 O nome só aparece na proposição em conexão com proposições elementares.
4.24 Os nomes são os símbolos mais simples, indico-os por letras singulares (“x”, “y”, “z”).
Escrevo as proposições elementares como função dos nomes, com a seguinte forma: “fx”, “ϕ(x, y)”, etc.
Ou indico-as por meio das letras p, q, r.
4.241 Se emprego dois signos numa única e mesma denotação, isto vem expresso quando introduzo entre ambos o signo “=”.
“a = b” equivale pois a: o signo “a” é substituível pelo signo “b”.
(Se introduzo por meio de uma equação um nôvo signo “b”, determinando que deve substituir um signo “a” já conhecido, então escrevo a equação — definição — (como Russell) na forma “a = b Def.”. A definição é uma regra a propósito de signos.)
4.242 Expressões de forma “a = b” são, pois, recursos de representação; nada dizem a respeito da denotação dos signos “a”, “b”.
4.243 Podemos compreender dois nomes sem saber se designam a mesma coisa ou duas coisas diferentes? — Podemos compreender uma proposição em que dois nomes aparecem sem saber se denotam o mesmo ou o diverso?
Conhecendo a denotação de uma palavra inglêsa e de outra alemã de mesma denotação, não me é possível ignorar que ambas possuem a mesma denotação, não me é possível não traduzi-las uma pela outra.
Expressões como “a = a” ou destas derivadas não são nem proposições elementares nem signos significativos. (Isto será mostrado mais tarde.)
4.25 Se a proposição elementar fôr verdadeira, o estado de coisas subsiste; se fôr falsa, o estado de coisas não subsiste.
4.26 A indicação de tôdas as proposições elementares verdadeiras descreve o mundo completamente. O mundo é completamente descrito pela indicação de tôdas as proposições elementares mais a indicação de quais são as verdadeiras e quais as falsas.
4.27 A respeito da subsistência e da não-subsistência de n estados de coisas dá-se [math]\displaystyle{ K_n = \sum_{\nu = 0}^n \binom{n}{\nu} }[/math] possibilidades.
É possível tôdas as combinações de estados de coisas subsistirem e outras não subsistirem.
4.28 A essas combinações correspondem assim muitas possibilidades de verdade — e falsidade — de n proposições elementares.
4.3 As possibilidades de verdade das proposições elementares denotam as possibilidades da subsistência e da não-subsistência de estados de coisas.
4.31 Podemos representar as possibilidades de verdade do seguinte modo (“V” denota “verdadeiro”, “F” denota “falso”. As séries de “V” e “F” sob a série das proposições elementares denotam suas possibilidades de verdade num simbolismo fàcilmente compreensível):
| p | q | r |
|---|---|---|
| V | V | V |
| F | V | V |
| V | F | V |
| V | V | F |
| F | F | V |
| F | V | F |
| V | F | F |
| F | F | F |
| p | q |
|---|---|
| V | V |
| F | V |
| V | F |
| F | F |
| p |
|---|
| V |
| F |
4.4 A proposição é a expressão da concordância e da discordância com as possibilidades de verdade das proposições elementares.
4.41 As possibilidades de verdade das proposições elementares são as condições da verdade e falsidade das proposições.
4.411 É de antemão provável que a introdução de proposições elementares seja fundamental para a compreensão de todos os outros modos de proposição. A compreensão das proposições universais, com efeito, depende palpàvelmente da das proposições elementares.
4.42 No que respeita à concordância ou à discordância de uma proposição com as possibilidades de verdade de n proposições elementares há [math]\displaystyle{ \sum_{\kappa = 0}^{K_n} \binom{K_n}{\kappa} = L_n }[/math] possibilidades
4.43 A concordância com as possibilidades de verdade podemos exprimi-la apondo-lhe no esquema a insígnia “V” (verdadeiro).
A falta dessa insígnia denota a discordância.
4.431 A expressão da concordância e da discordância com as possibilidades de verdade das proposições elementares exprime as condições de verdade da proposição.
A proposição é expressão de suas condições de verdade.
(Por isso Frege agiu corretamente ao tomá-las desde logo como explicação dos signos de sua ideografia. Sòmente a explicação do conceito de verdade em Frege é falsa: fôssem realmente “o verdadeiro” e “o falso” os objetos e os argumentos em ∼p, etc., então, segundo a determinação de Frege, o sentido de “∼p” não estaria determinado de modo algum.)
4.44 O signo que surge por meio da aposição dessa insígnia “V” às possibilidades de verdade é um signo proposicional.
4.441 É claro que nenhum objeto (ou complexo de objetos) corresponde ao complexo de signos “F” ou “V”; tampouco como às linhas horizontais ou verticais ou aos parênteses. — Não há “objetos lógicos”.
Algo análogo vale naturalmente para todos os signos que exprimem a mesma coisa que os esquemas de “V” e “F”.
4.442 Por exemplo:
“
| p | q | |
|---|---|---|
| V | V | V |
| F | V | V |
| V | F | |
| F | F | V |
”
é um signo proposicional.
(O “traço de juízo” “⊢”, introduzido por Frege, do ponto de vista lógico carece inteiramente de denotação; indica em Frege (e Russell) que tais autores tomam como verdadeiras as proposições assim designadas. “⊢” pertence tão pouco à construção da proposição como, por exemplo, a numeração das proposições. Uma proposição não pode, de forma alguma, assertar de si mesma que é verdadeira.)
Se as séries de possibilidades de verdade forem fixadas de vez no esquema, por meio de uma regra de combinação, a última coluna por si só já exprime as condições de verdade. Ao escrevermos esta coluna como série, o signo proposicional será o seguinte: “(VV–V) (p, q)”, ou de modo mais nítido “(VVFV) (p, q)”.
(O número de posições no interior dos parênteses da esquerda está determinado pelo número de têrmos dos da direita.)
4.45 Para n proposições elementares há Ln grupos possíveis de condições de verdade.
Os grupos de condições de verdade que pertencem às possibilidades de verdade de um número de proposições elementares ordenam-se numa série.
4.46 Entre os grupos possíveis de condições de verdade há dois casos extremos.
No primeiro caso a proposição é verdadeira para tôdas as condições de verdade das proposições elementares. Dizemos então que as condições de verdade são tautológicas.
No segundo caso a proposição é falsa para tôdas as condições de verdade: as condições de verdade são contraditórias.
No primeiro caso chamamos à proposição de tautologia, no segundo, contradição.
4.461 A proposição mostra o que diz, a tautologia e a contradição que não dizem nada.
A tautologia não possui condições de verdade pois é verdadeira sob qualquer condição; a contradição sob nenhuma condição é verdadeira.
A tautologia e a contradição são vazias de sentido.
(Como o ponto de onde duas flechas partem em direções opostas.)
(Nada sei, por exemplo, a respeito do tempo se sei que chove ou não chove.)
4.4611 A tautologia a contradição não são, porém, absurdas; pertencem ao simbolismo do mesmo modo que “0” pertence ao simbolismo da aritmética.
4.462 A tautologia e a contradição não são figurações da realidade. Não representam nenhuma situação possível, porquanto aquela permite tôdas as situações possíveis, esta, nenhuma.
Na tautologia as condições de concordância com o mundo — as relações representativas — cancelam-se umas às outras, pois não se põem em relação representativa com a realidade.
4.463 As condições de verdade determinam o campo aberto aos fatos pela proposição.
(A proposição, a figuração, o modêlo são, num sentido negativo, como um corpo sólido que limita a liberdade de movimento de outro; no sentido positivo, como um espaço limitado por uma substância sólida onde um corpo pode ter lugar.)
A tautologia deixa inteiramente à realidade o espaço lógico — infinito —; a contradição preenche o espaço lógico inteiro, não deixando à realidade ponto algum. Nenhuma delas pode, por conseguinte, determinar a realidade de um modo qualquer.
4.464 É certa a verdade da tautologia, da proposição é possível e da contradição impossível.
(Certo, possível, impossível: temos aqui a indicação da gradação que precisamos para a teoria da probabilidade.)
4.465 O produto lógico de uma tautologia e de uma proposição diz o mesmo que a proposição. O produto é, pois, idêntico à proposição, porquanto não se pode alterar o essencial do símbolo sem alterar seu sentido.
4.466 A uma determinada união lógica de signos corresponde uma determinada união da denotação dêles; cada união arbitrária corresponde apenas a signos desunidos.
Isto quer dizer que proposições, verdadeiras para qualquer situação, não podem ser em geral uniões de signos, pois, caso contrário, apenas determinadas uniões de objetos poderiam corresponder.
(E a nenhuma união lógica corresponde nenhuma união de objetos.)
Tautologia e contradição são casos-limites da união de signos, a saber, sua dissolução.
4.4661 Por certo na tautologia e na contradição os signos ainda estão ligados uns aos outros, isto é, relacionam-se entre si, mas estas relações são desprovidas de denotação, são inessenciais para o símbolo.
4.5 Agora parece possível estabelecer a forma mais geral da proposição, isto é, estabelecer uma descrição das proposições numa linguagem simbólica qualquer, de tal modo que cada um dos sentidos possíveis poderia ser expresso por um símbolo adequado à descrição e cada símbolo adequado à descrição poderia exprimir um sentido, se as denotações dos nomes fôssem convenientemente escolhidas.
É claro que, descrevendo a forma mais geral de uma proposição, sòmente o que é essencial deve ser descrito — caso contrário não seria a mais geral.
Prova-se a existência de uma forma geral da proposição porque não deve haver proposição alguma cuja forma não seja antes pressuposta (isto é, construída). A forma geral da proposição é: isto está do seguinte modo.
4.51 Supondo que tôdas as proposições elementares me sejam dadas, surge a pergunta: quais são as proposições que posso formar a partir delas? E estas são tôdas as proposições e assim elas são limitadas.
4.52 As proposições são tudo o que se segue da totalidade das proposições elementares (sem dúvida por que se parte da totalidade de tôdas elas). (Num certo sentido é possível dizer que tôdas as proposições são generalizações das proposições elementares.)
4.53 A forma geral da proposição é uma variável.
5 A proposição é uma função de verdade das proposições elementares.
(A proposição elementar é uma função de verdade de si mesma.)
5.01 As proposições elementares são os argumentos de verdade da proposição.
5.02 E fácil confundir argumentos de uma função com índices de nomes. Conheço em particular a denotação de um signo que a contém tanto pelo argumento como pelo índice.
No sinal de Russell “+c”, por exemplo, “c” é um índice que indica valer o signo inteiro para a soma de números cardinais. Esta designação, porém, se apóia num ajuste arbitrário, de sorte que seria possível em vez de “+c” escolher outro signo simples; em “∼p”, entretanto, “p” não é índice algum, mas argumento: o sentido de “∼p” não pode ser compreendido sem que antes o sentido de “p” o seja. (No nome Julius Caesar, “Julius” é índice. Êste é sempre parte da descrição do objeto cujos nomes vinculamos a êle. Por exemplo, o Caesar da gente juliana.)
A confusão entre argumento e índice constitui, se não me engano, a base da teoria de Frege a respeito da denotação das proposições e das funções. Para Frege, as proposições da lógica seriam nomes, e seus argumentos, os índices dêsses nomes.
5.1 As funções de verdade se ordenam em séries.
Êste é o fundamento da teoria da probabilidade.
5.101 As funções de verdade de todos os números de proposições elementares inscrevem-se no seguinte esquema:
| (VVVV)(p, q) | Tautologia | (Se p, então p; e se g, então q.) (p ⊃ p . q ⊃ q) |
| (FVVV)(p, q) | em palavras: | Não ambos p e q. (∼(p . q)) |
| (VFVV)(p, q) | em palavras: | Se q, então p. (q ⊃ p) |
| (VVFV)(p, q) | em palavras: | Se p, então q. (p ⊃ q) |
| (VVVF)(p, q) | em palavras: | p ou q (p ∨ q) |
| (FFVV)(p, q) | em palavras: | Não q. ∼q |
| (FVFV)(p, q) | em palavras: | Não p. ∼p |
| (FVVF)(p, q) | em palavras: | p ou q mas não ambos. (p . ∼q : ∨ : q . ∼p) |
| (VFFV)(p, q) | em palavras: | Se p, então q; e se q, então p. (p ≡ q) |
| (VFVF)(p, q) | em palavras: | p |
| (VVFF)(p, q) | em palavras: | q |
| (FFFV)(p, q) | em palavras: | q) |
| (FFVF)(p, q) | em palavras: | p e não q. (p . ∼q) |
| (FVFF)(p, q) | em palavras: | q e não p. (q . ∼p) |
| (VFFF)(p, q) | em palavras: | q e p (q . p) |
| (FFFF)(p, q) | Contradição | (p e não p; e q e não g.) (p . ∼p . q . ∼q) |
A essas possibilidades de verdade de seus argumentos de verdade, que confirmam as proposições, chamo de seus fundamentos de verdade.
5.11 Se os fundamentos de verdade comuns a um número de proposições, também forem fundamentos de verdade de uma proposição determinada, dizemos então que a verdade dessa proposição se segue da verdade daquelas outras.
5.12 Em particular a verdade de uma proposição “p” segue-se da de outra “q” se todos os fundamentos de verdade da segunda forem fundamentos de verdade da primeira.
5.121 Os fundamentos de verdade de uma estão contidos nos da outra; assim, p segue-se de q.
5.122 Se p segue-se de q, o sentido de “p” está contigo no sentido de “q”.
5.123 Se um deus criasse um mundo em que certas proposições fôssem verdadeiras, criaria do mesmo modo um mundo com o qual concordariam tôdas suas proposições conseqüentes. E assim similarmente não poderia criar um mundo em que a proposição “p” fôsse verdadeira, sem criar todos os objetos dela.
5.124 A proposição afirma cada proposição que dela se segue.
5.1241 “p . q” é uma das proposições que afirmam “p” e ao mesmo tempo uma das proposições que afirmam “q”.
Duas proposições são opostas uma à outra se não existir qualquer proposição significativa que afirme ambas.
Cada proposição que contradiz a outra, nega-a.
5.13 Que a verdade de uma proposição segue-se da verdade de outras vemos a partir da estrutura das proposições.
5.131 Se a verdade de uma proposição segue-se da verdade de outras, isto se exprime nas relações que as formas dessas proposições mantêm entre si; e não precisamos com efeito colocá-las primeiro naquelas relações, unindo-as com outra proposição, porquanto essas relações são internas e subsistem enquanto aquelas proposições subsistirem, e porque elas subsistem.
5.1311 Se pois de p ∨ q e de ~p inferimos q, a relação entre as formas das proposições “p ∨ q” e “∼p” se oculta em virtude da maneira de simbolizar. Se em lugar de “p ∨ q”, escrevemos, por exemplo, “p | q . | . p | q” e em lugar de “∼p” “p | p” (p | q = nem p nem q), logo se torna clara a conexão interna.
De (x).fx pode-se inferir fa; isto mostra que a universalidade já está presente no símbolo “(x).fx”.
5.132 Se p segue-se de q, posso então inferir de q, p; deduzir p de q.
O modo de inferência há de ser captado apenas de ambas as proposições.
Sòmente elas podem justificar a inferência.
“Regras de inferência” que — como em Frege e Russell — devem justificar a inferência são vazias de sentido e seriam supérfluas.
5.133 Tôda dedução se dá a priori.
5.134 De uma proposição elementar nenhuma outra pode ser deduzida.
5.135 De modo algum é possível inferir da subsistência de uma situação qualquer a subsistência de uma situação inteiramente diferente dela.
5.136 Não há nexo causal que justifique tal inferência.
5.1361 Não podemos inferir os acontecimentos do futuro a partir daqueles do presente.
É superstição a crença no nexo causal.
5.1362 A liberdade da vontade consiste em não poder conhecer agora as ações futuras. Só poderíamos conhecê-las se a causalidade fôsse uma necessidade interna, como a inferência lógica. A conexão entre o conhecer e o conhecido é a mesma da necessidade lógica.
(“A sabe que p ocorre” é vazia de sentido se p fôr uma tautologia.)
5.1363 Sendo uma proposição óbvia para nós, não se segue que seja verdadeira; por conseguinte, a obviedade não é justificativa para nossa crença em sua verdade.
5.14 Se uma proposição segue-se de outra, esta diz mais do que aquela, aquela menos do que esta.
5.141 Se p segue-se de q e q de p, ambas são pois uma única e mesma proposição.
5.142 A tautologia segue-se de tôdas as proposições: não diz nada.
5.143 A contradição é algo comum às proposições e que nenhuma proposição tem em comum com outra. A tautologia é o que é comum a tôdas as proposições que não têm nada em comum entre si.
A contradição desaparece, por assim dizer, por fora, a tautologia, por dentro de tôdas as proposições.
A contradição é limite externo das proposições, a tautologia, seu centro dessubstancializado.
5.15 Seja Vr o número dos fundamentos de verdade da proposição “r”, Vrs o número daqueles fundamentos de verdade da proposição “s” que ao mesmo tempo são fundamentos de verdade de “r”; chamamos então à relação: Vrs : Vr de medida de probabilidade que a proposição “r” tem em relação à proposição “s”.
5.151 Seja num esquema como o de cima, no número 5.101, Vr o número de “V” da proposição r; Vrs o número daqueles “V” na proposição s que estão na mesma coluna com os “V” da proposição r. A proposição r tem em relação à proposição s a probabilidade Vrs : Vr.
5.1511 Não há nenhum objeto particular próprio às proposições probabilísticas.
5.152 Chamamos mùtuamente independentes as proposições que não têm em comum com outras qualquer argumento de verdade.
Duas proposições elementares têm entre si a probabilidade ½.
Se p segue-se de q, a proposição “q” tem em relação à proposição “p” a probabilidade 1. A certeza da inferência lógica é o caso-limite da probabilidade.
(Aplicação à tautologia e à contradição.)
5.153 Uma proposição não é nem provável nem improvável. Um acontecimento se dá ou não se dá, não há meio-têrmo.
5.154 Suponhamos que numa urna estejam tantas bolas brancas quantas pretas (e nenhuma a mais). Tiro uma bola depois da outra e as reponho de nôvo na urna. Posso, então, estabelecer pela experiência que o número das bolas pretas tiradas e o das bolas brancas tiradas se aproximam progressivamente um do outro.
Isto não é, portanto, um fato matemático.
Se disser agora: é igualmente provável que tirarei uma bola branca como uma preta, isso quer dizer: tôdas as circunstâncias que me são conhecidas (incluindo as leis da natureza tomadas hipotèticamente) não conferem a um acontecimento nenhuma probabilidade a mais do que a outro. A saber, estão — como se compreende fàcilmente a partir das explicações acima — numa relação de probabilidade de ½.
O que verifiquei pela experiência é que ambos os acontecimentos independem das circunstâncias das quais não tenho conhecimento mais próximo.
5.155 A unidade das proposições probabilísticas é a seguinte: as circunstâncias — de que, aliás, não tenho conhecimento mais amplo — conferem a um determinado acontecimento tal e tal grau de probabilidade.
5.156 Dêsse modo, a probabilidade é uma generalização.
Envolve uma descrição geral de uma forma proposicional.
Só na falta de certeza precisamos de probabilidade. — Quando não conhecemos um fato completamente, mas ao menos sabemos algo a respeito de sua forma.
(Uma proposição pode, com efeito, ser uma figuração incompleta de uma certa situação, entretanto sempre é uma figuração completa.)
A proposição probabilística é como se fôsse um extrato de outras proposições.
5.2 As estruturas das proposições mantêm entre si relações internas.
5.21 Podemos trazer essas relações internas para nosso modo de expressão, representando uma proposição como resultado de uma operação que a produz de outras proposições (as bases da operação).
5.22 A operação é a expressão de uma relação entre as estruturas do resultado e de suas bases.
5.23 Operação é o que deve acontecer com uma proposição a fim de gerar outra a partir dela.
5.231 E isso naturalmente dependerá de suas propriedades formais, da semelhança interna de suas formas.
5.232 A relação interna que ordena uma série equivale à operação que produz um têrmo a partir de outro.
5.233 A operação só pode ter lugar pela primeira vez onde uma proposição nasce de outra de modo lògicamente denotativo; onde começa, portanto, a construção lógica da proposição.
5.234 As funções de verdade das proposições elementares resultam de operações que têm como bases as proposições elementares. (A essa operação chamo de operação-verdade.)
5.2341 O sentido de uma função de verdade de p é função do sentido de p.
Negação, soma lógica, multiplicação lógica, etc., etc., são operações.
(A negação inverte o sentido da proposição.)
5.24 A operação mostra-se numa variável; mostra como de uma forma de proposições se pode chegar a outra.
Torna expressa a diferença de formas.
(E o que é comum às bases e ao resultado da operação são precisamente essas bases.)
5.241 A operação não designa forma alguma, mas apenas a diferença de formas.
5.242 A mesma operação que produz “q” de “p”, produz também de “q”, “r” e assim por diante. Isto só pode ser expresso porque “p”, “q”, “r”, etc., são variáveis que tornam expressas de um modo geral certas relações formais.
5.25 A realização de uma operação não caracteriza o sentido de uma proposição.
A operação nada asserta além de seu resultado e isto depende das bases dessa operação.
(Operações e funções não devem ser confundidas.)
5.251 Uma função não pode ser seu próprio argumento; no entanto, o resultado de uma operação pode muito bem ser sua própria base.
5.252 Sòmente assim é possível o progresso de um têrmo a outro na série formal (de tipo a tipo na hierarquia de Russell e Whitehead). (Russell e Whitehead não admitiram a possibilidade dêsse progresso mas fizeram dêle uso repetido.)
5.2521 À aplicação progressiva de uma operação sôbre seu próprio resultado chamo sua aplicação sucessiva. (“O'O'O'a” resulta de três aplicações sucessivas de “O'ξ” sôbre “a”).
Em sentido semelhante falo da aplicação sucessiva de muitas operações sôbre um número de proposições.
5.2522 O têrmo geral de uma seqüência formal a, O'a, O'O'a, ... escrevo por isso do seguinte modo: “[a, x, O'x]”. Esta expressão entre colchêtes é uma variável. O primeiro têrmo da expressão do colchête é o início da série formal, o segundo a forma de um têrmo qualquer x da série e o terceiro a forma daquele têrmo da série que segue imediatamente a x.
5.2523 O conceito de aplicação sucessiva de operação equivale ao conceito “e assim por diante”.
5.253 Uma operação pode anular o efeito de outra. Operações podem suprimir-se mùtuamente.
5.254 A operação pode desaparecer (por exemplo, a negação em “∼∼p”, ∼∼p = p).
5.3 Tôdas as proposições resultam de operações-verdades sôbre as proposições elementares.
A operação-verdade é o modo pelo qual a função de verdade nasce das proposições elementares.
Do mesmo modo que das proposições elementares nasce sua função de verdade, das funções de verdade nasce uma nova, de acôrdo com a essência da operação-verdade. Cada operação-verdade reproduz a partir de funções de verdade de proposições elementares uma função de verdade de proposições elementares, a saber, uma proposição. O resultado de cada operação-verdade realizada com resultados de operações-verdades sôbre proposições elementares é de nôvo o resultado de uma operação-verdade sôbre proposições elementares.
Tôda proposição resulta de operações-verdades sôbre proposições elementares.
5.31 Os esquemas do n.º 4.31 possuem também denotação quando “p”, “q”, “r”, etc., não são proposições elementares.
É fácil verificar que o signo proposicional no n.º 4.442 exprime uma função de verdade de proposições elementares ainda quando “p” e “q” são funções de verdade de proposições elementares.
5.32 Tôdas as funções de verdade resultam da aplicação sucessiva de um número finito de operações-verdades sôbre proposições elementares.
5.4 Aqui se evidencia que não há “objetos lógicos”, “constantes lógicas” (no sentido de Frege e Russell).
5.41 Porquanto: todos os resultados de operações-verdades sôbre funções de verdade são idênticos, são uma e a mesma função de verdade de proposições elementares.
5.42 É óbvio que ∨, ⊃, etc., não são relações no sentido de direita e esquerda.
A possibilidade de definição cruzada dos “signos primitivos” de Frege e Russell já mostra que não são primitivos e que não designam relação alguma.
É evidente que “⊃”, que definimos por “∼” e “v”, é idêntico ao que serve para definir “∨” com a ajuda de “∼” e que êste “∨” é idêntico ao primeiro. E assim por diante.
5.43 Que de um fato p outros ao infinito seguir-se-ão, nomeadamente ∼∼p, ∼∼∼∼p, etc., é difícil, no início, de se acreditar. E não é menos extraordinário o número infinito de proposições da lógica (da matemática) seguir-se de meia dúzia de “princípios”.
Tôdas as proposições da lógica dizem, porém, o mesmo; a saber, nada.
5.44 As funções de verdade não são funções materiais.
Já que, por exemplo, é possível gerar uma afirmação por meio da dupla negação, estará a negação — seja qual fôr o sentido — incluída na afirmação? “∼∼p” nega ∼p ou afirma p, ou ambos?
A proposição “∼∼p” não trata a negação como um objeto; a possibilidade da negação, entretanto, já está antecipada na afirmação.
E se houvesse um objeto chamado “∼”, então “∼∼p” deveria dizer outra coisa do que “p”. Porquanto uma proposição trataria de “∼”, enquanto a outra não.
5.441 Êste desaparecimento das aparentes constantes lógicas se dá se “∼(∃x) . ∼fx” diz a mesma coisa que “(x). fx” ou “(∃x). fx . x = a”, o mesmo que “fa”.
5.442 Caso uma proposição nos seja dada, com ela dão-se os resultados de tôdas as operações-verdades que a têm como base.
5.45 Se houvesse signos lógicos primitivos, uma lógica correta deveria esclarecer suas posições, relativas umas às outras, e justificar sua existência. Deve tornar-se clara a construção da lógica a partir de seus signos primitivos.
5.451 Se a lógica possuísse conceitos básicos, êstes deveriam ser independentes uns dos outros. Admitido um conceito básico, deveria êle ser admitido em tôdas as vinculações em que em geral aparece. Não é possível, portanto, primeiramente admiti-lo numa conexão para em seguida admiti-lo em outra. Por exemplo, admitida a negação, devemos entendê-la tanto nas proposições de forma “∼p”, como nas proposições tais que “∼(p ∨ q)”, “(∃x) . ∼fx”, etc. Não podemos introduzi-la primeiro para uma classe de casos, em seguida para outra: permaneceria duvidoso se sua denotação seria a mesma em ambos os casos, não havendo motivo de utilizar para êsses casos o mesmo modo de vincular os signos.
(Em resumo, para a introdução de signos primitivos vale, mutatis mutandis, o que Frege (nos Princípios da Aritmética) disse a propósito da introdução de signos por meio de definições.)
5.452 A introdução de um nôvo recurso no simbolismo da lógica sempre há de ser um acontecimento pleno de conseqüências. Nenhum recurso nôvo há de ser introduzido na lógica — entre parênteses ou à margem — por assim dizer, com cara inocente.
(Aparecem nos Principia Mathematica de Russell e Whitehead definições e princípios em palavras. Por que de repente palavras? Isto demanda uma justificação, que falta e deve faltar, pois o procedimento não é de fato permitido.)
Se todavia a introdução de nôvo recurso se provou necessária, deve-se perguntar imediatamente: onde êsse recurso deve ser sempre empregado? Sua localização na lógica deve ser esclarecida.
5.453 Todos os números da lógica devem deixar-se justificar.
Ou melhor, deve evidenciar-se que não há números na lógica.
Não há número excelente.
5.454 Não há na lógica um lado a lado, pois não há classificação.
Não pode haver na lógica o mais geral ou o mais especial.
5.4541 A solução dos problemas lógicos deve ser simples, já que êstes colocam o padrão da simplicidade.
Os homens sempre tiveram o pressentimento que deveria haver um domínio de questões cujas respostas — a priori — fôssem simétricas e unidas a uma construção acabada e regular.
Um domínio em que vale a sentença: simplex sigillum veri.
5.46 Caso se introduzam corretamente os signos lógicos, então já se introduz o sentido de tôdas as suas combinações; portanto, não apenas “p ∨ q” mas também “∼(p ∨ ∼q)”, etc., etc. Já se teria introduzido, pois, o efeito de tôdas as combinações meramente-possíveis de parênteses. E assim estaria claro que os signos primitivos pròpriamente universais não seriam “p ∨ q”, “(∃x) . fx” mas a forma mais geral de suas combinações.
5.461 Muito denota o fato aparentemente desimportante de que as pseudo-relações lógicas como ∨ ou ⊃ precisem de parênteses — ao contrário das relações reais.
A utilização de parênteses junto a esses pseudo-signos primitivos já indica que não são signos primitivos reais. E ninguém acreditará porventura que os parênteses possuam denotação autônoma.
5.4611 Os signos das operações lógicas são pontuações.
5.47 É claro que tudo o que se diz de antemão sôbre a forma de tôdas as proposições deve ser dito ao menos uma vez.
Na proposição elementar já estão contidas tôdas as operações lógicas. Porquanto “fa” diz o mesmo que “(∃x) . fx . x = a”.
Onde há composição já há argumento e função, e onde estão êstes já estão tôdas as constantes lógicas.
Poder-se-ia dizer: uma constante lógica é aquilo que tôdas as proposições, conforme sua natureza, possuem em comum.
Isto é, porém, a forma proposicional geral.
5.471 A forma proposicional geral é a essência da proposição.
5.4711 Dar a essência da proposição quer dizer dar a essência de tôdas as descrições e, por conseguinte, a essência do mundo.
5.472 A descrição da forma proposicional mais geral é a descrição de um e um só signo primitivo universal da lógica.
5.473 A lógica deve cuidar de si mesma.
Um signo possível também deve poder designar. Tudo o que na lógica é possível também é permitido. (“Sócrates é idêntico” não diz nada, pois não há propriedade que se chame “idêntico”. A proposição é absurda porque não encontramos uma determinação arbitrária, e não porque o símbolo em si e para si não fôsse permitido.)
Em certo sentido, não podemos errar na lógica.
5.4731 O óbvio de que Russell tanto fala só pode tornar-se prescindível porque a própria linguagem impede os erros lógicos. — Que a lógica seja a priori consiste em que nada ilógico pode ser pensado.
5.4732 Não podemos dar a um signo um sentido incorreto.
5.47321 O lema de Occam não é por certo uma regra arbitrária, ou que se justifique por seus resultados práticos; diz apenas que unidades de signos desnecessárias nada designam.
Signos que preenchem uma finalidade são lògicamente equivalentes, os que preenchem nenhuma são lògicamente desprovidos de denotação.
5.4733 Frege diz: cada proposição formada legìtimamente deve ter um sentido; eu digo: cada proposição possível é legitimamente formada e, se não tiver sentido, isto só é possível porque não emprestamos denotação a algumas de suas partes constituintes.
(Ainda que acreditemos tê-lo feito.)
Dêsse modo, “Sócrates é idêntico” não diz nada, porque não emprestamos à palavra “idêntico” como adjetivo denotação alguma. Quando aparece como signo de igualdade, ela simboliza de maneira totalmente diversa — é outra a relação designadora —, de sorte que o símbolo, em ambos os casos, é inteiramente diferente; ambos os símbolos apenas têm, por acidente, o signo em comum.
5.474 O número das operações básicas necessárias depende apenas de nossa notação.
5.475 Trata-se apenas de formar um sistema de signos com número determinado de dimensões — com uma multiplicidade matemática determinada.
5.476 É claro que não se discute aqui o número de conceitos fundamentais que devem ser designados, mas a expressão de uma regra.
5.5 Cada função de verdade resulta da aplicação sucessiva da operação (– – – – –V)(ξ, . . . .) sôbre proposições elementares.
Esta operação nega tôdas as proposições no interior dos parênteses da direita, e a chamo negação dessas proposições.
5.501 Uma expressão nos parênteses cujos têrmos sejam proposições — quando é indiferente a seqüência dos têrmos nos parênteses — indico por meio de um signo da forma “[math]\displaystyle{ (\bar{\xi}) }[/math]”. “ξ” é uma variável cujos valôres são os têrmos da expressão entre parênteses, e o traço sôbre a variável indica que esta substitui nos parênteses todos os seus valôres.
(Se, por exemplo, ξ tem 3 valôres P, Q, R, [math]\displaystyle{ (\bar{\xi}) }[/math] = (P, Q, R).)
Serão fixados os valores das variáveis.
A fixação é a descrição das proposições que a variável substitui.
É inessencial como se dá a descrição dos têrmos da expressão entre parênteses.
Podemos distinguir três maneiras de descrever: 1) Enumeração direta; neste caso podemos, em lugar das variáveis, colocar simplesmente seus valôres constantes. 2) Indicação de uma função fx cujos valôres, para todos os valôres de x, constituam as proposições a serem descritas. 3) Indicação de uma lei formal segundo a qual cada proposição é formada; neste caso os têrmos da expressão entre parênteses são todos os têrmos de uma série formal.
5.502 Escrevo pois “[math]\displaystyle{ N (\bar{\xi}) }[/math]” em lugar de “(– – – – –V)(ξ, . . . .)”.
[math]\displaystyle{ N (\bar{\xi}) }[/math] é a negação de todos os valores da variável proposicional ξ.
5.503 Evidentemente é fácil exprimir como proposições podem formar-se graças a esta operação e como proposições não têm de ser formadas graças a ela; e isto também pode encontrar uma expressão exata.
5.51 Se ξ tiver apenas um valor, [math]\displaystyle{ N (\bar{\xi}) }[/math] = ∼p (não p), se tiver dois valôres, [math]\displaystyle{ N (\bar{\xi}) }[/math] = ∼p . ∼q (nem p nem q).
5.511 Como é possível a lógica, que tudo abrange e espelha o mundo, precisar de tais artifícios e manipulações especiais? Sòmente porque tudo isto está ligado a uma rêde infinitamente fina, ao grande espelho.
5.512 “∼p” é verdadeiro se “p” fôr falso. Portanto, numa proposição verdadeira “~p”, “p” é uma falsa proposição. Como lhe é possível fazer o traço “∼” concordar com a realidade?
O que é negado em “∼p” não é “∼”, mas o que é comum a todos os signos dessa notação que negam p.
Dêsse modo, a regra comum pela qual se formam “∼p”, “∼∼∼p”, “∼p ∨ ∼p”, “∼p . ∼p”, etc., etc. (ao infinito). E o que é comum espelha a negação.
5.513 Poder-se-ia dizer: O que é comum a todos os símbolos que afirmam tanto p como q é a proposição “p . q”. O que é comum a todos os símbolos que afirmam p ou q, é a proposição “p ∨ q”.
E assim se pode dizer: Duas proposições são opostas mùtuamente se nada possuem em comum; e: cada proposição tem apenas um negativo, pois há apenas uma proposição que se situa inteiramente fora dela.
E na própria notação de Russell é evidente que “q : p ∨ ∼p” diz a mesma coisa que “q” e que “p ∨ ∼p” não diz nada.
5.514 Fixada uma notação, há nela uma regra pela qual são formadas tôdas as proposições negadoras de p, uma regra pela qual são formadas tôdas as proposições afirmadoras de p, uma regra pela qual são formadas tôdas as proposições afirmadoras de p ou q, e assim por diante. Essas regras são equivalentes aos símbolos e nelas espelha-se o seu sentido.
5.515 É preciso indicar que, em nossos símbolos, o que é ligado mùtuamente por “∨”, “.”, etc., deve ser proposições.
E isto ocorre, pois o símbolo “p” e “q” já pressupõem “∨”, “∼”, etc. Se o signo “p” em “p ∨ q” não substituir um signo complexo, não pode possuir sentido sozinho; mas então também os signos “p ∨ p”, “p . p”, que têm o mesmo sentido que “p”, não teriam sentido. Se entretanto “p ∨ p” não tiver sentido, então do mesmo modo “p ∨ q” não terá sentido.
5.5151 Deve o signo da proposição negativa ser formado por meio do signo da positiva? Por que não se poderia exprimir a proposição negativa por um fato negativo? (Do seguinte modo: se “a” não se relacionar de modo determinado com “b”, isto poderia exprimir que aRb não ocorre.)
Mas também aqui a proposição negativa se forma indiretamente pela positiva.
A proposição positiva deve pressupor a existência da proposição negativa e vice-versa.
5.52 Sejam os valôres de ξ todos os valôres de uma função fx para todos os valôres de x, então [math]\displaystyle{ N (\bar{\xi}) }[/math] = ∼(∃x) . fx.
5.521 Separo o conceito todo das funções de verdade.
Frege e Russell introduziram a universalidade em ligação com o produto lógico ou a soma lógica e, dêsse modo, tornou-se difícil entender as proposições “(∃x) . fx” e “(x) . fx”, em que ambas as idéias permanecem ocultas.
5.522 É peculiar à designação da universalidade: 1) referir-se a uma protofiguração lógica; 2) salientar as constantes.
5.523 A designação da universalidade aparece como argumento.
5.524 Caso os objetos estejam dados, nos estarão dados todos os objetos.
Caso as proposições elementares estejam dadas, já nos estão dadas tôdas as proposições elementares.
5.525 É incorreto interpretar a proposição “(∃x) . fx” — como Russell o faz — pelas palavras: “fx é possível”.
Certeza, possibilidade e impossibilidade de uma situação não se expressam por meio de uma proposição mas por ser a expressão uma tautologia, uma proposição significativa ou uma contradição.
Aquêle caso precedente a que sempre se há de apelar já deve estar no próprio símbolo.
5.526 É possível descrever o mundo completamente por meio de proposições perfeitamente universalizadas, a saber, sem que de antemão um nome fôsse coordenado a um objeto.
Para chegar-se ao modo de expressão habitual deve-se simplesmente, depois de uma expressão “há um e um único x tal que...”, dizer: e êste x é a.
5.5261 Uma proposição perfeitamente universalizada é, como qualquer outra proposição, composta. (Isto se mostra quando, em “(∃x, ϕ) . ϕx” devemos mencionar separadamente “ϕ” e “x”. Ambos se correlacionam independentemente com o mundo, como na proposição que não foi universalizada.)
Característica de um símbolo composto: tem algo em comum com outro símbolo.
5.5262 A verdade ou a falsidade de cada proposição altera em algo a construção geral do mundo. E o campo que se deixa para sua construção por meio da totalidade das proposições elementares é precisamente aquêle que as proposições inteiramente universalizadas delimitam.
(Se uma proposição elementar fôr verdadeira, sempre haverá por isso mais uma proposição elementar verdadeira.)
5.53 Exprimo a igualdade de objetos pela igualdade de signos e não graças ao auxílio de um signo de igualdade. E a diversidade dos objetos por meio da diversidade de signos.
5.5301 É óbvio que a identidade não é uma relação entre objetos. Isto se torna muito claro quando se considera, por exemplo, a proposição “(x) : fx . ⊃ . x = a”. A proposição diz meramente que apenas a satisfaz a função f, mas não diz que sòmente as coisas que mantêm uma certa relação com a satisfazem a função f.
Poder-se-ia sem dúvida dizer que sòmente a mantém esta relação com a, mas para exprimi-lo precisamos do signo da igualdade.
5.5302 A definição dada por Russell de “=” não é suficiente, pois, segundo ela, não é possível dizer que dois objetos possuem em comum tôdas as propriedades. (Ainda que esta proposição não seja correta, possui sentido.)
5.5303 Falando grosso modo: dizer de dois objetos que são idênticos é absurdo, e de um único que é idêntico consigo mesmo por certo não diz nada.
5.531 Não escrevo pois “f(a, b) . a = b” mas “f(a, a) (ou “f(b, b)”). Não escrevo “f(a, b)”. ∼a = b”, mas “f(a, b)”.
5.532 E anàlogamente: não “(∃x, y) . f(x, y) . x = y”, mas “(∃x). f(x, x)”; não “(∃x, y). f(x, y) . ∼x = y”, mas “(∃x, y). f(x, y)”.
(Dêsse modo, em vez da fórmula de Russell “(∃x, y) . f(x, y)”, temos “(∃x, y). f(x, y) . ∨ . (∃x) . f(x, x)”).
5.5321 Em vez de “(x) : fx ⊃ x = a” escrevemos, por exemplo, “(∃x). fx . ⊃ . fa : ∼(∃x, y). fx . fy”.
E a proposição “sòmente um x satisfaz f( )” será “(∃x) . fx : ∼(∃x, y) . fx . fy”.
5.533 O signo da igualdade não é, pois, parte essencial da ideografia.
5.534 Vemos então que pseudoproposições como: “a = a”, “a = b . b = c . ⊃ a = c”, “(x) . x = x”, “(∃x) . x = a”, etc., não se deixam inscrever de modo algum numa ideografia correta.
5.535 Desaparecem assim todos os problemas ligados a tais pseudoproposições.
Todos os problemas que encerra o axiom of infinity de Russell aqui se resolvem.
O axiom of infinity quer dizer, em têrmos da linguagem, que existem infinitamente muitos nomes com denotação diferente.
5.5351 Existem certos casos em que se é tentado a usar expressões da forma: “a = a”, ou “p ⊃ p” e outras. E isto com efeito acontece quando se deve falar da protofiguração: proposição, coisa, etc. Russell, nos Principles of Mathematics transpôs o absurdo “p é uma proposição” no símbolo “p ⊃ p”, tomando-o como hipótese diante de certas proposições a fim de que os lugares dos argumentos destas só pudessem ser ocupados por proposições.
(Já é um absurdo colocar diante de uma proposição a hipótese p ⊃ p para assegurar aos argumentos forma correta, porque a hipótese estabelecida para uma não-proposição enquanto argumento não se torna falsa mas absurda; além do mais, a própria proposição se torna absurda para argumentos de gênero incorreto, de sorte que se conserva tanto boa como má diante dos argumentos incorretos, assim como a hipótese sem sentido empregada para êsse fim.)
5.5352 Do mesmo modo, pretendeu-se exprimir “Não existe coisa alguma” por meio de “∼(∃x) . x = x”. Ainda, porém, que isto fôsse uma proposição — esta não seria verdadeira se, com efeito, “houvesse coisas” que todavia não fôssem idênticas consigo mesmas?
5.54 Na forma geral da proposição, a proposição aparece na proposição apenas como base das operações-verdades.
5.541 À primeira vista parece que seria possível uma proposição aparecer numa outra de outro modo.
Em particular em certas formas proposicionais da psicologia tais como “A acredita que p ocorre” ou “A pensa p”, etc.
Nelas parece superficialmente que a proposição p se relaciona, de um certo modo, com um objeto A.
(E na moderna teoria do conhecimento (Russell, Moore, etc.) essas proposições são assim concebidas.)
5.542 É claro porém que “A acredita que p”, “A pensa p”, “A diz p” são da forma “p diz p”. Não se trata aqui da coordenação de um fato e um objeto, mas da coordenação de fatos por meio da coordenação de seus objetos.
5.5421 Isto mostra que a alma — o sujeito, etc. — tal como é compreendida atualmente pela psicologia superficial, é um disparate.
Uma alma composta não seria mais alma.
5.5422 A explicação correta da forma da proposição “A julga p” deve indicar ser impossível julgar um absurdo. (A teoria de Russell não satisfaz essa condição.)
5.5423 Perceber um complexo quer dizer perceber que suas partes constituintes estão em relação entre si de um certo modo.
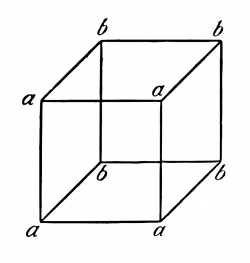
Isto também explica por que é possível ver a figura de duas maneiras como um cubo; e todos os fenômenos parecidos. Porquanto vemos realmente dois fatos diferentes.
(Primeiro vejo a partir dos vértices a, e só ligeiramente a partir de b; a aparece na frente; e vice-versa.)
5.55 Devemos agora a priori responder à pergunta a respeito de tôdas as formas possíveis de proposições elementares.
A proposição elementar constitui-se de nomes. Pôsto que não podemos dar o número de nomes com denotação diferente, não podemos também dar a composição das proposições elementares.
5.551 É nossa proposição básica: cada questão que em geral se deixa decidir pela lógica, deve sem mais deixar-se decidir.
(E se chegarmos à condição de precisar olhar o mundo para responder a tais problemas, isto mostraria que enveredamos por pistas bàsicamente falsas.)
5.552 A “experiência” que precisamos para compreender a lógica, não é a de que algo está do seguinte modo, mas a de que algo é; esta, porém, não é uma experiência.
A lógica está antes de qualquer experiência — de que algo é assim.
Dêsse modo está antes do Como mas não antes do Que.
5.5521 E se não fôsse assim como poderíamos aplicar a lógica? Poder-se-ia dizer: se houvesse uma lógica ainda que não houvesse um mundo, como poderia haver uma lógica já que há um mundo?
5.553 Russell disse que havia relações simples entre diversos números de coisas (individuais). Mas entre que números? E como isto há de ser decidido? — Por meio da experiência?
(Não existe um número excelente.)
5.554 A indicação daquelas formas especiais seria completamente arbitrária.
5.5541 Há de se revelar a priori se, por exemplo, posso chegar à condição de ter de designar alguma coisa com um signo de uma relação de 27 têrmos?
5.5542 Devemos, pois, fazer em geral tal pergunta? Podemos estabelecer uma forma em signos e não saber se a ela poderia corresponder alguma coisa?
Tem sentido a questão: O que deve ser a fim de que algo possa ocorrer?
5.555 É claro que temos da proposição elementar um conceito independente de sua forma lógica particular.
Onde é possível formar símbolos de acôrdo com um sistema, o importante do ponto de vista lógico é o próprio sistema, não o símbolo singular.
Como seria também possível que, na lógica, tivesse que me ocupar de formas que posso inventar? No entanto, devo ocupar-me com o que me torna possível inventá-las.
5.556 Não pode haver hierarquia de formas das proposições elementares. Podemos pressupor sòmente o que nós próprios construímos.
5.5561 A realidade empírica é limitada pela totalidade dos objetos. O limite reaparece na totalidade das proposições elementares.
As hierarquias são e devem ser independentes da realidade.
5.5562 Por motivos puramente lógicos sabemos que deve haver proposições elementares; dêsse modo, isto deve ser conhecido por todo aquêle que compreende as proposições na sua forma não-analisada.
5.5563 Tôdas as proposições de nossa linguagem corrente são, de fato, tais como são, perfeitamente ordenadas de um ponto de vista lógico. — Tudo o que fôr mais simples e que devemos aqui admitir não é símile da verdade mas a própria verdade plena.
(Nossos problemas não são abstratos mas talvez os mais concretos que existem.)
5.557 A aplicação da lógica decide que proposições elementares existem.
O que está na aplicação a lógica não pode antecipar.
É claro: a lógica não há de colidir com sua aplicação.
Mas a lógica deve referir-se à sua aplicação.
Dêsse modo, a lógica e sua aplicação não devem sobrepor-se uma à outra.
5.5571 Se não posso indicar a priori as proposições elementares, querer indicá-las deve redundar num patente absurdo.
5.6 Os limites de minha linguagem denotam os limites de meu mundo.
5.61 A lógica preenche o mundo, os limites do mundo são também seus limites.
Não podemos pois dizer na lógica: isto e isto existem no mundo, aquilo não.
Porquanto se pressuporia aparentemente que excluímos certas possibilidades, o que não pode ocorrer pois, do contrário, a lógica deveria colocar-se além dos limites do mundo, como se pudesse considerar êsses limites também do outro lado.
Não podemos pensar o que não podemos pensar, por isso também não podemos dizer o que não podemos pensar.
5.62 Esta observação dá a chave para decidir da questão: até onde o solipsismo é uma verdade.
O que o solipsismo nomeadamente acha é inteiramente correto, mas isto se mostra em vez de deixar-se dizer.
Que o mundo é o meu mundo, isto se mostra porque os limites da linguagem (da linguagem que sòmente eu compreendo) denotam os limites de meu mundo.
5.621 O mundo e a vida são um só.
5.63 Sou meu mundo. (O microcosmos.)
5.631 O sujeito representante e pensante não existe.
Se escrevesse um livro: O mundo tal como encontro, deveria reportar-me a meu corpo e dizer quais membros estão sob minha vontade e quais não estão, etc. — isto é particularmente um método para isolar o sujeito, ou melhor, para indicar que não existe sujeito num sentido importante: dêle sòzinho não é possível tratar neste livro.
5.632 O sujeito não pertence ao mundo mas é limite do mundo.
5.633 Onde no mundo se há de notar um sujeito metafísico?
Tu dizes que aqui se está inteiramente como diante do ôlho e do campo visual, mas tu não vês realmente o ôlho.
E não há coisa no campo visual que leve à conclusão de que ela é vista por um ôlho.
5.6331 O campo visual não tem nomeadamente uma forma como esta:
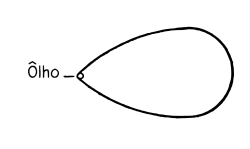
5.634 Isto se liga a que nenhuma parte de nossa experiência é a priori.
Tudo o que vemos poderia ser diferente.
Tudo o que podemos em geral descrever poderia ser diferente.
Não há a priori uma ordem das coisas.
5.64 Por aqui se vê que o solipsismo, levado às últimas conseqüências, coincide com o realismo puro. O eu do solipsismo reduz-se a um ponto sem extensão, a realidade permanecendo coordenada a êle.
5.641 Tem, portanto, sentido real falar-se, na filosofia, do eu de um ponto de vista não-psicológico.
O eu penetra na filosofia porque o “mundo é meu mundo”.
O eu filosófico não é o homem, nem o corpo humano, nem a alma humana de que se ocupa a psicologia, mas o sujeito metafísico, o limite — não sendo pois parte do mundo.
6 A forma geral da função de verdade é [math]\displaystyle{ [ \bar{p}, \bar{\xi}, N (\bar{\xi}) ] }[/math]
Esta é a forma geral da proposição.
6.001 Isto nada mais diz do que: cada proposição resulta da aplicação sucessiva da operação [math]\displaystyle{ N (\bar{\xi}) }[/math] sôbre as proposições elementares.
6.002 Dada a forma geral de como construir uma proposição, com isto já está dada a forma geral de como é possível gerar outra, por meio de uma operação, partindo-se de uma proposição.
6.01 A forma geral da operação [math]\displaystyle{ \Omega ' (\bar{\eta}) }[/math] é pois: [math]\displaystyle{ [\bar{\xi}, N(\bar{\xi})]' (\bar{\eta}) (= [ \bar{\eta}, \bar{\xi}, N (\bar{\xi}) ]) }[/math].
Esta é a forma mais geral da transposição de uma proposição para outra.
6.02 Chegamos assim aos números. Defino:
[math]\displaystyle{ x = \Omega^{0 \prime} x \text{ Def.} }[/math] e
[math]\displaystyle{ \Omega^{\prime} \Omega^{ \nu \prime} x = \Omega^{ \nu + 1 \prime} x \text{ Def.} }[/math]
Segundo essa regra de signos, escrevemos pois a série: [math]\displaystyle{ x, \Omega ' x, \Omega ' \Omega ' x, \Omega ' \Omega ' \Omega ' x, ..... }[/math]
como: [math]\displaystyle{ \Omega^{0 \prime} x, \Omega^{0+1 \prime} x, \Omega^{0 + 1 + 1 \prime} x, \Omega^{0 + 1 + 1 + 1 \prime} x, ..... }[/math]
Em vez de “[math]\displaystyle{ [ x, \xi, \Omega ' \xi ] }[/math]” escrevo, portanto,
“[math]\displaystyle{ [ \Omega^{0 \prime} x, \Omega^{ \nu \prime} x, \Omega^{ \nu + 1 \prime} x ] }[/math]”.
E defino:
[math]\displaystyle{ 0 + 1 = 1 \text{ Def.} }[/math]
[math]\displaystyle{ 0 + 1 + 1 = 2 \text{ Def.} }[/math]
[math]\displaystyle{ 0 + 1 + 1 + 1 = 3 \text{ Def.} }[/math]
(e assim por diante)
6.021 O número é o expoente de uma operação.
6.022 O conceito de número nada mais é do que é comum a todos os números, a forma geral do número.
O conceito número é a variável número.
E o conceito da igualdade entre os números é a forma geral de tôdas as igualdades especiais entre os números.
6.03 A forma geral dos números inteiros é: [0, ξ, ξ + 1].
6.031 A teoria das classes é inteiramente supérflua para a matemática.
Isto está ligado a que a universalidade de que precisamos na matemática não é a acidental.
6.1 As proposições da lógica são tautologias.
6.11 As proposições da lógica, portanto, não dizem nada. (São as proposições analíticas.)
6.111 São sempre falsas as teorias que fazem uma proposição da lógica aparecer com conteúdo. Poder-se-ia, por exemplo, acreditar que as palavras “verdadeiro” e “falso” designassem duas propriedades entre outras, de sorte que pareceria um fato extraordinário que cada proposição possuísse uma dessas propriedades. Isto não parece, de modo algum, evidente; é tão pouco evidente como, por exemplo, o é a proposição “Tôdas as rosas são ou amarelas ou vermelhas”, ainda que fôsse verdadeira. Essa proposição toma, com efeito, o caráter de uma proposição das ciências naturais e isto é sintoma seguro de que foi falsamente concebida.
6.112 A explicação correta das proposições lógicas deve conferir-lhe uma posição peculiar entre tôdas as proposições.
6.113 É marca característica e particular das proposições lógicas que se possa conhecer apenas pelo símbolo quando são verdadeiras, e êste fato contém em si tôda a filosofia da lógica. Assim, é um dos fatos mais importantes que a verdade ou a falsidade das proposições não-lógicas não é conhecida ùnicamente na proposição.
6.12 As proposições da lógica são tautologias; isto mostra as propriedades (lógicas) formais da linguagem, do mundo.
Suas partes constituintes, ao se vincularem dessa maneira, produzem uma tautologia, e isto caracteriza a lógica de suas partes constituintes.
As proposições devem possuir determinadas propriedades de estrutura a fim de que, vinculadas de um determinado modo, produzam uma tautologia. Se produzem uma tautologia ligando-se dessa maneira, isto mostra que possuem tais propriedades de estrutura.
6.1201 Por exemplo: a proposição “p” e a “∼p” na conexão “∼(p . ∼p)” produzem uma tautologia, o que mostra que se contradizem entre si. As proposições “p ⊃ q”, “p” e “q”, ligadas entre si na forma “(p ⊃ q) . (p) : ⊃ : (q)”, produzem uma tautologia, o que mostra que q se segue de p e p ⊃ q. Que “(x) . fx : ⊃ : fa” seja uma tautologia, mostra que fa se segue de (x) . fx, etc., etc.
6.1202 É claro que, em vez da tautologia, é possível empregar a contradição para os mesmos fins.
6.1203 Para reconhecer uma tautologia como tal, nos casos em que na tautologia não aparece qualquer designação da generalidade, é possível utilizar o seguinte método intuitivo: em vez de “p”, “q”, “r”, etc., escrevo “VpF”, “VqF”, “VrF”, etc. As combinações de verdade são expressas por chaves:
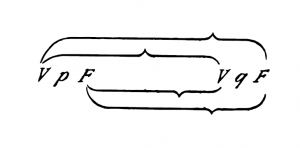
e a coordenação da verdade ou da falsidade da proposição total e as combinações de verdade dos argumentos de verdade, por meio de traços, do modo seguinte:
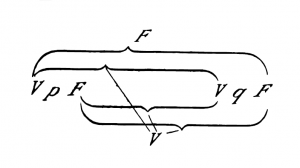
Êste signo representaria, por exemplo, a proposição “p ⊃ q”. Vou verificar, por exemplo, se a proposição ∼(p . ∼p) (lei da contradição) é uma tautologia. A forma “∼ξ” será escrita em nossa notação:

A forma “ξ . η”:
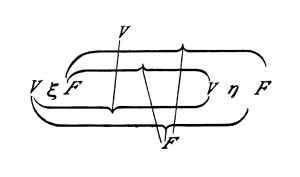
De modo que a proposição ∼(p . ∼q) será:
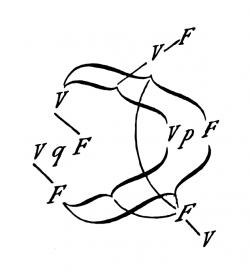
Em lugar de “q” coloquemos “p” e examinemos a conexão dos V e F mais exteriores com os mais interiores; logo verificamos que a verdade da proposição total coordena-se com tôdas as combinações de verdade de seus argumentos, enquanto que sua falsidade, com nenhuma das combinações de verdade.
6.121 As proposições da lógica demonstram as propriedades lógicas das proposições, pois se ligam em proposições que não dizem nada.
É possível chamar a êsse método de método-nulo. Na proposição lógica as proposições são levadas a se equilibrarem mùtuamente, de modo que a situação de equilíbrio indica como tais proposições devem ser constituídas de um ponto de vista lógico.
6.122 Donde resulta ser possível viver sem as proposições lógicas, já que podemos reconhecer, graças à mera inspeção dessas proposições, suas propriedades formais numa notação correspondente.
6.1221 Se, por exemplo, duas proposições “p” e “q” geram, na conexão p ⊃ q, uma tautologia, é claro então que q se segue de p.
Que, por exemplo, “q” segue-se de “p ⊃ q . p”, vemos graças ao exame de ambas as proposições, mas podemos mostrá-lo ligando-as em “p ⊃ q . p : ⊃ : q” e mostrando que esta última forma uma tautologia.
6.1222 Isso ilumina a questão: porque as proposições lógicas não podem ser confirmadas pela experiência nem refutadas por ela. Não só uma proposição da lógica não pode ser refutada por uma experiência possível, mas também não há de ser confirmada por ela.
6.1223 E assim se torna claro porque muitas vêzes sentimos como se as “verdades lógicas” fôssem postuladas por nós; podemos com efeito postulá-las enquanto podemos postular uma notação satisfatória.
6.1224 Agora se torna claro porque a lógica foi chamada teoria das formas e das inferências.
6.123 É claro que as leis lógicas não devem elas próprias depender de outras leis lógicas.
(Não há, como Russell imaginou, para cada type uma certa lei da contradição, mas basta uma, desde que não se aplique a si mesma.)
6.1231 O sintoma da proposição lógica não é a validade universal.
Ser universal quer dizer apenas: valer para tôdas as coisas de modo acidental. Uma proposição não universalizada pode ser tautologia tanto como uma proposição universalizada.
6.1232 A validade lógica universal pode ser chamada essencial, em oposição àquela acidental, como a da proposição: “Todos os homens são mortais”. Proposições como o axiom of reducibility de Russell não são proposições lógicas, o que esclarece nosso sentimento de que, quando verdadeiras, só o podem ser graças a um acaso favorável.
6.1233 É plausível pensar um mundo em que não valha o axiom of reducibility; de sorte que se torna claro que a lógica nada tem a ver com a questão de nosso mundo ser realmente assim ou não.
6.124 As proposições lógicas descrevem os andaimes do mundo, ou melhor, os representam. Não “tratam” de nada. Pressupõem que os nomes possuam denotação e as proposições elementares, sentido. E tal é sua vinculação com o mundo. É claro que isso deve indicar alguma coisa a respeito do mundo, que certas vinculações de símbolos — que essencialmente possuem um caráter determinado — são tautologias. E aqui está o que é decisivo. Dissemos que, nos símbolos que usamos, muito era arbitrário, muito não o era. E na lógica apenas isso se exprime; o que quer dizer que na lógica nós não exprimimos o que queremos com a ajuda de signos, mas que a natureza dos signos naturalmente necessários, na lógica, asserta-se a si própria. Ao conhecermos a sintaxe lógica de uma linguagem simbólica qualquer, já estão dadas tôdas as proposições da lógica.
6.125 É possível, e isto também de acordo com a velha concepção da lógica, dar prèviamente uma descrição de tôdas as proposições lógicas “verdadeiras”.
6.1251 Nunca poderá haver, pois, surprêsas na lógica.
6.126 É possível calcular se uma proposição pertence à lógica calculando as propriedades lógicas do símbolo.
E é o que fazemos ao “provar” uma proposição lógica. Porquanto, sem nos preocuparmos com o sentido e a denotação, formamos a proposição lógica a partir de outras meramente segundo as regras dos signos.
A prova das proposições lógicas consiste em fazermos com que sejam geradas a partir de outras proposições lógicas graças à aplicação sucessiva de certas operações, que das primeiras tautologias reproduzem outras. (E, com efeito, de uma tautologia seguem-se apenas tautologias.)
Êste modo de mostrar que suas proposições são tautologias é, sem dúvida, para a lógica, inteiramente inessencial. Exatamente porque as proposições de que parte a prova já devem mostrar, sem prova, que são tautologias.
6.1261 Na lógica, processo e resultado são equivalentes. (Por isso não há nenhuma surprêsa.)
6.1262 A prova na lógica é apenas um expediente mecânico para facilitar o reconhecimento da tautologia onde ela é complicada.
6.1263 Seria, pois, extraordinário poder provar lògicamente uma proposição significativa a partir de outra, e ainda uma proposição lógica. É claro desde logo que a prova lógica de uma proposição significativa e a prova na lógica devem ser coisas inteiramente diferentes.
6.1264 A proposição significativa asserta algo e sua prova mostra que é assim; na lógica cada proposição está sob a forma de uma prova.
Cada proposição da lógica é um modus ponens representado num signo. (E não é possível exprimir o modus ponens por meio de uma proposição.)
6.1265 Sempre se pode conceber a lógica de tal modo que cada proposição seja sua própria prova.
6.127 Tôdas as proposições da lógica são eqüiponderantes, não existem entre elas princípios essenciais e proposições derivadas.
Cada tautologia, ela própria, mostra que é uma tautologia.
6.1271 É claro que o número dos princípios lógicos é arbitrário, pois se poderia derivar a lógica de um único princípio, por exemplo, formando meramente o produto lógico dos princípios de Frege. (Frege talvez dissesse que êsses princípios não seriam mais transparentes de modo imediato. Seria extraordinário, porém, que um pensador tão exato como Frege tomasse, como critério de uma proposição lógica, seu grau de transparência.)
6.13 A lógica não é teoria, mas figuração especular do mundo.
A lógica é transcendental.
6.2 A matemática é um método lógico.
As proposições da matemática são equações e, portanto, pseudoproposições.
6.21 A proposição da matemática não exprime pensamentos.
6.211 Na vida, não é da proposição matemática que precisamos, usamo-la apenas para inferir, de proposições que não pertencem à matemática, outras que igualmente não pertencem a ela.
(Na filosofia, a questão “para que precisamos efetivamente de tal palavra ou de tal proposição” sempre conduz a valiosas visualizações.)
6.22 A lógica do mundo que as proposições lógicas mostram nas tautologias, a matemática a mostra nas equações.
6.23 Se duas expressões estiverem ligadas pelo signo de igualdade, isto quer dizer que são mùtuamente substituíveis. Quando, porém, isto vier a ocorrer, deve mostrar-se nas próprias expressões.
Caracteriza a forma lógica de duas expressões serem mùtuamente substituíveis.
6.231 É propriedade da afirmação poder ser concebida como dupla negação.
E propriedade de “1 + 1 + 1 + 1” poder ser concebida como “(1 + 1) + (1 + 1)”.
6.232 Frege diz que ambas as expressões têm a mesma denotação mas sentido diverso.
É essencial para a equação, entretanto, ela não ser necessária para mostrar que ambas as expressões, ligadas pelo signo de igualdade, possuam a mesma denotação, pois isto se vê a partir de ambas as expressões.
6.2321 E que as proposições da matemática possam ser provadas, nada mais quer dizer que sua correção é reconhecida sem precisar comparar o que elas exprimem com os fatos, do ponto de vista de sua correção.
6.2322 Não se afirma a identidade da denotação de duas expressões, pois, para poder afirmar algo a respeito de sua denotação, devo conhecer essa denotação e, ao conhecê-la, já sei se denota a mesma coisa ou algo diferente.
6.2323 A equação revela apenas o ponto de vista do qual considero ambas as expressões, a saber, o ponto de vista da igualdade de sua denotação.
6.233 A pergunta se é preciso a intuição para resolver problemas matemáticos deve ser respondida considerando que a própria linguagem fornece a intuição necessária.
6.2331 O processo de calcular faz intervir precisamente essa intuição.
O cálculo não é experimento.
6.234 A matemática é um método da lógica.
6.2341 O que é essencial para o método matemático é trabalhar com equações. E dêsse método depende particularmente que cada proposição da matemática deve ser compreendida de per si.
6.24 O método pelo qual a matemática chega às equações é o da substituição.
Porquanto a equação exprime o caráter substitutivo das duas expressões, de sorte que passamos de um número de equações para uma nova equação, substituindo expressões por outras, de acordo com as equações.
6.241 É desta maneira então que se desdobra a prova de 2 × 2 = 4
[math]\displaystyle{ ( \Omega^{ \nu} )^{\mu \prime} x = \Omega^{ \nu \times \mu \prime} x \text{ Def.} }[/math]
[math]\displaystyle{ \Omega^{2 \times 2 \prime} x = (\Omega^2 )^{2 \prime} x = ( \Omega^2 )^{1+1 \prime} x = \Omega^{2 \prime} \Omega^{2 \prime} x = \Omega^{1 + 1 \prime} \Omega^{1 + 1 \prime} x }[/math]
[math]\displaystyle{ (\Omega ' \Omega)^{\prime} (\Omega ' \Omega)^{\prime} x = \Omega ' \Omega ' \Omega ' \Omega ' x = \Omega^{1 + 1 + 1 + 1 \prime} x = \Omega^{4 \prime} x }[/math]
6.3 A investigação da lógica denota a investigação de tôda a legalidade. Fora dela tudo é acidente.
6.31 A assim chamada lei da indução não pode, em caso algum, ser uma lei lógica, pois é patentemente uma proposição significativa. — De sorte que nem mesmo pode ser uma lei a priori.
6.32 A lei da causalidade não é lei mas forma de uma lei.
6.321 “Lei de causalidade” é um nome genérico. E assim como dizemos, na mecânica, que existem leis mínimas — por exemplo, a de ação menor — existem na física leis de causalidade, leis da forma da causalidade.
6.3211 Já se teve, com efeito, um pressentimento de que era preciso uma “lei de ação mínima” antes de se saber exatamente o que rezava. (Aqui como sempre, o que é certo a priori se revela como algo puramente lógico.)
6.33 Não acreditamos a priori numa lei da conservação, mas conhecemos a priori a possibilidade de uma forma lógica.
6.34 Tôdas aquelas proposições, como o princípio de razão suficiente, o de continuidade na natureza, o do mínimo esfôrço na natureza, etc., etc., tôdas são visualizações a priori a respeito da possibilidade de enformar proposições da ciência.
6.341 A mecânica newtoniana, por exemplo, conduz a descrição do universo a uma forma unificada. Tomemos uma superfície branca e sôbre ela manchas pretas irregulares. Dizemos então: seja qual for a figuração que faço, sempre posso aproximar-me quanto quiser de sua descrição, se cubro a superfície com uma rêde quadriculada suficientemente fina de modo a poder dizer de cada quadrado se é branco ou prêto. Conduzi dessa maneira a descrição da superfície a uma forma unificada. Essa forma é qualquer, pois teria empregado com o mesmo sucesso uma rêde feita em triângulos ou em hexágonos. É possível que a descrição com auxílio de uma rêde em triângulos fôsse mais simples, isto é, com uma grossa rêde em triângulos poderíamos ter obtido uma descrição mais precisa das manchas do que com outra mais fina e quadriculada (ou vice-versa), e assim por diante. Às diversas rêdes correspondem diversos sistemas de descrever o mundo. A mecânica determina uma forma de descrição do mundo, pois diz: tôdas as proposições da descrição do mundo devem ser obtidas de um número de proposições dadas — os axiomas mecânicos — segundo um modo dado. Com isto provê as pedras para a construção do edifício científico, dizendo: sejam quais forem os edifícios que pretendas levantar, deves construí-los com estas e apenas estas pedras.
(Assim como se escreve qualquer número com o sistema numérico, com o sistema da mecânica deve-se poder escrever qualquer proposição da física.)
6.342 Vemos assim a posição oposta da lógica e da mecânica. (Poder-se-ia também fazer a rêde composta de figuras diversas, como de triângulos e hexágonos.) Que uma figuração como a mencionada acima seja descrita por uma rêde de uma forma dada, não asserta nada a respeito da figuração. (Porquanto isso vale para cada figuração dessa espécie.) Caracteriza, porém, a figuração poder ser completamente descrita por uma determinada rêde de determinada finura.
Do mesmo modo, nada asserta a respeito do mundo poder ser descrito pela mecânica newtoniana; asserta, entretanto, poder ser descrito por ela tal como precisamente vem a ser. Também diz algo a respeito do mundo poder ser descrito, por uma mecânica, de maneira mais simples do que por outra.
6.343 A mecânica é uma tentativa de construir, conforme um plano único, tôdas as proposições verdadeiras que precisamos para a descrição do mundo.
6.3431 Através de todo o aparato lógico, as leis físicas ainda falam de objetos do mundo.
6.3432 Não devemos nos esquecer de que a descrição do mundo feita pela mecânica é sempre inteiramente geral. Nunca trata, por exemplo, de um ponto material determinado, mas ùnicamente de qualquer um.
6.35 Embora as manchas em nossa figuração sejam figuras geométricas, a geometria evidentemente nada tem a dizer sôbre sua forma efetiva e sôbre sua condição. A rêde, porém, é puramente geométrica, tôdas as suas propriedades podem ser dadas a priori.
Leis como o princípio de razão suficiente, etc., tratam da rêde, não, porém, do que ela descreve.
6.36 Se houvesse uma lei da causalidade, seria do seguinte teor: “há leis naturais”.
No entanto, òbviamente isto não se pode dizer: mostra-se.
6.361 Segundo as expressões de Hertz, poder-se-ia dizer: apenas as conexões em conformidade com a lei são pensáveis.
6.3611 Não podemos comparar nenhum processo com o “decurso do tempo” (êsse decurso não existe), apenas com outro processo — em particular, com o andar de um cronômetro.
Por isso a descrição do curso temporal só é possível porque nos apoiamos em outro processo.
É análogo o que acontece com o espaço. Quando se diz, por exemplo, que nenhum de dois acontecimentos (mùtuamente exclusivos) tem lugar, porque não há nenhuma causa que leve um a realizar-se ao invés do outro, na realidade trata-se apenas da impossibilidade de descrever um dentre os dois acontecimentos quando não há uma assimetria qualquer. Desde que haja tal assimetria, podemos tomá-la como causa do vir-a-ser de um e do não vir-a-ser do outro.
6.36111 O problema kantiano da mão direita e da mão esquerda que não se cobrem já surge no plano e até mesmo num espaço unidimensional, onde duas figuras congruentes a e b não se cobrem a não ser que se movam fora dêsse espaço. A mão esquerda e a direita são de fato perfeitamente congruentes. E nada tem a ver com isso a impossibilidade de fazer com que se cubram.
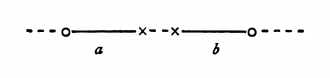
Seria possível vestir a luva direita na mão esquerda se a girássemos num espaço quadridimensional.
6.362 O que pode ser descrito pode acontecer e o que a lei da causalidade há de excluir não pode ser descrito.
6.363 O processo da indução consiste em aceitar a lei mais simples que possa estar conforme com nossa experiência.
6.3631 Êste processo todavia não tem fundamento lógico, mas apenas psicológico.
É claro que não há razão alguma para acreditar que o caso mais simples realmente ocorrerá.
6.36311 Que o sol se levante amanhã, é uma hipótese, e isto quer dizer: não sabemos se se levantará.
6.37 Não há obrigação para algo acontecer depois de alguma coisa ter acontecido. Não há necessidade que não seja lógica.
6.371 Na base de tôda moderna visão do mundo está a ilusão de que as assim chamadas leis naturais sejam esclarecimentos a propósito dos fenômenos naturais.
6.372 Colocam-se assim diante das leis naturais como diante de algo intangível, como os antigos diante de Deus e do destino.
E ambos têm e não têm razão. Os antigos, entretanto, eram tanto mais claros quanto mais reconheciam um claro término, enquanto os novos sistemas devem parecê-lo quando tudo estiver explicado.
6.373 O mundo independe de minha vontade.
6.374 Se acontecesse tudo o que desejássemos, isto seria, por assim dizer, uma graça do destino, já que não há vinculação lógica entre vontade e mundo; e, suposta uma vinculação física, não podemos querê-la de nôvo.
6.375 Havendo sòmente uma necessidade lógica, só há uma impossibilidade lógica.
6.3751 Que, por exemplo, duas côres estejam concomitantemente no mesmo lugar do campo visual é impossível, e por certo lògicamente impossível, porquanto isto se exclui em virtude da estrutura lógica da côr.
Consideremos como essa contradição se representa na física. Aproximadamente do seguinte modo: uma partícula não pode ao mesmo tempo possuir duas velocidades; quer dizer que ela não pode estar concomitantemente em dois lugares, o que significa que partículas, que estão em diferentes lugares num mesmo tempo, não podem ser idênticas.
(É claro que o produto lógico de duas proposições elementares não pode ser nem uma tautologia nem uma contradição. A asserção de que um ponto do campo visual tem, ao mesmo tempo, duas côres diferentes é uma contradição.)
6.4 Tôdas as proposições têm igual valor.
6.41 O sentido do mundo deve estar fora dêle. No mundo tudo é como é e acontece como acontece: nêle não há valor — e se houvesse, o valor não teria valor.
Se houver um valor que tenha valor, então deve permanecer fora de todos os acontecimentos e do ser-peculiar, pois todos os acontecimentos e o ser-peculiar são acidentais.
O que o faz não-acidental não pode estar no mundo pois, no caso contrário, isto seria de nôvo acidental.
Deve estar fora do mundo.
6.42 Por isso não pode haver proposições da ética.
Proposições não podem exprimir nada além.
6.421 É claro que a ética não se deixa exprimir.
A ética é transcendental.
(Ética e estética são um só.)
6.422 O primeiro pensamento para estabelecer uma lei ética da forma “tu deves...” consiste em: E o que se daria se eu não fizesse isso? No entanto, é claro que a ética nada tem a ver com castigo e recompensa no sentido comum. Essa questão a respeito das conseqüências de uma ação deve ser insignificante. — No mínimo essas conseqüências não serão acontecimentos. Algo, porém, deve estar correto na colocação da questão. Por certo deve existir uma espécie de recompensa ética e de castigo ético que devem, todavia, estar na própria ação.
(Mas também é claro que a recompensa deve ter algo agradável, o castigo, algo desagradável.)
6.423 No que respeita à vontade como portador do que é ético, nada pode ser dito.
A vontade como fenômeno apenas interessa à psicologia.
6.43 Se querer o bem ou querer o mal muda o mundo, isto só poderá mudar os limites do mundo, nunca os fatos; nunca o que pode ser expresso pela linguagem.
Em suma, por isso o mundo deve em geral tornar-se outro. Deve, por assim dizer, crescer ou diminuir como um todo.
O mundo dos felizes é diferente do mundo dos infelizes.
6.431 Também como na morte, o mundo não se altera mas acaba.
6.4311 A morte não é acontecimento da vida. Não se vive a morte.
Se por eternidade não se entender a duração infinita do tempo mas a atemporalidade, vive eternamente quem vive no presente.
Nossa vida está privada de fim como nosso campo visual, de limite.
6.4312 A imortalidade temporal da alma humana, a saber, seu continuar a viver eternamente ainda depois da morte, não está de maneira alguma assegurada; além do mais, essa assunção não cumpre nada do que sempre se quis lograr com ela. Algum enigma será resolvido por ter eu continuado a viver eternamente? Não é a vida eterna tão enigmática como a presente? A solução do enigma da vida no espaço e no tempo reside fora do espaço e do tempo.
(Não são problemas de ciência natural a serem resolvidos.)
6.432 Como é o mundo é perfeitamente indiferente para o que está além. Deus não se manifesta no mundo.
6.4321 Os fatos fazem todos parte da tarefa mas não da solução.
6.44 O que é místico não é como o mundo é mas que êle seja.
6.45 A intuição do mundo sub specie aeterni é a intuição dêle como um todo limitado.
É místico o sentimento do mundo como um todo limitado.
6.5 Para uma resposta inexprimível é inexprimível a pergunta.
O enigma não existe.
Se uma questão pode ser colocada, poderá também ser respondida.
6.51 O cepticismo não é irrefutável mas patentemente absurdo, quando pretende duvidar onde não cabe perguntar.
A dúvida, pois, só existe onde existe uma questão, uma questão apenas onde existe uma resposta, e esta sòmente onde algo pode ser dito.
6.52 Sentimos que, mesmo que tôdas as possíveis questões científicas fôssem respondidas, nossos problemas vitais não teriam sido tocados. Sem dúvida, não cabe mais pergunta alguma, e esta é precisamente a resposta.
6.521 Observa-se a solução dos problemas da vida no desaparecimento dêsses problemas.
(Esta não é a razão por que os homens, para os quais o sentido da vida se tornou claro depois de um longo duvidar, não podem mais dizer em que consiste êsse sentido?)
6.522 Existe com certeza o indizível. Isto se mostra, é o que é místico.
6.53 O método correto em filosofia seria pròpriamente: nada dizer a não ser o que pode ser dito, isto é, proposições das ciências naturais — algo, portanto, que nada tem a haver com a filosofia; e sempre que alguém quisesse dizer algo a respeito da metafísica, demonstrar-lhe que não conferiu denotação a certos signos de suas proposições. Para outrem êsse método não seria satisfatório — êle não teria o sentimento de que lhe estaríamos ensinando filosofia — mas seria o único método estritamente correto.
6.54 Minhas proposições se elucidam do seguinte modo: quem me entende, por fim as reconhecerá como absurdas, quando graças a elas — por elas — tiver escalado para além delas. (É preciso por assim dizer jogar fora a escada depois de ter subido por ela.)
Deve-se vencer essas proposições para ver o mundo corretamente.
7 O que não se pode falar, deve-se calar.
- ↑ Os algarismos que enumeram as proposições isoladas indicam o peso lógico dessas proposições, a importância que adquirem em minha exposição. As proposições n.1, n.2, n.3, etc., constituem observações à proposição n.º n; as proposições n.m1, n.m2, etc., observações à proposição n.º n.m, e assim por diante.
Notas à tradução
A numeração das notas segue a numeração do Tractatus.
— Convém observar que a formulação do sistema de numeração das proposições é matemàticamente insuficiente; não explica, por exemplo, a proposição 2.001, cujo sentido no entanto se apreende fàcilmente pelo contexto.
2 — Estado de coisas: Sachverhalt, etimològicamente “como as coisas se comportam entre si” (cf. Introdução, p. 39). Tivemos o cuidado de traduzir sich verhalten por “está em relação”, vinculando dêsse modo estado ao verbo estar. Russell indagara de Wittgenstein a respeito da diferença entre estado de coisa e fato (Tatsache). A resposta é a seguinte: “Sachverhalt é o que corresponde à proposição elementar quando verdadeira. Tatsache, o que corresponde ao produto lógico de proposições elementares quando êsse produto é verdadeiro. A razão pela qual introduzo Tatsache antes de introduzir Sachverhalt demandaria uma longa explicação” (Schriften, I, p. 275). Baseado nessa informação, Russell escreveu no prefácio da edição inglêsa (p. 9): “Os fatos que não são compostos de outros fatos é o que o Sr. Wittgenstein chama Sachverhalt, enquanto que o fato constituído por dois ou mais fatos, é chamado Tatsache. Assim, por exemplo, ‘Sócrates é sábio’ é Sachverhalt e também Tatsache, enquanto ‘Sócrates é sábio e Platão foi seu aluno’ é Tatsache mas não Sachverhalt”. Basta, porém, confrontar a proposição 5.5571 para nos convencermos da falsidade da interpretação de Russell. É de notar que o problema dos elementos simples da realidade está estreitamente ligado ao problema das proposições elementares, devendo, portanto, ser colocado juntamente com a proposição 5.55.
2.0121 (3) — Meramente-possível: nur-möglich, neologismo que serve para indicar que a noção de possibilidade, em Wittgenstein, não se confunde com a possibilidade desvencilhada dos fatos.
2.0251 — Coloridade: Färbigkeit, indicando que não se trata simplesmente da côr, mas da possibilidade de os objetos serem coloridos.
2.06 Realidade: Wirklichkeit, a lingua alemã possui Realität e Wirklichkeit, esta última palavra indicando a realidade efetiva. O contexto, no entanto, basta para indicar que sentido Wittgenstein dá a êsse têrmo, de modo que não foi preciso carregar a tradução com duas palavras para um único significado.
2.1 — Figuração: Bild, apesar do caráter ativo de “figuração”, inexistente em Bild, preferimos essa palavra ao invés do têrmo neutro “imagem”, tendo em vista ser ela a única capaz de indicar todos os matizes do texto alemão.
3.24 (3) — O mesmo prefixo ur foi traduzido diferentemente em Urbild (protofiguração) e Urzeichen (signo primitivo), e a isso fomos levados porque uma protofiguração é uma parte de um fato que, sòmente so ser completado, adquire uma função figurativa, enquanto o signo primitivo é um signo completo, que serve de ponto de partida para a construção do edifício simbólico.
3.261 — A tradução freqüente dêsse über é “por meio de” (a tradução inglêsa emprega a palavra latina via). Adotamos a tradução “por sôbre”, para nos manter fiel a um texto que diz expressamente que as definições apenas mostram o caminho cujo alcance vai além dos membros da expressão definidora. Convém lembrar que uma proposição elementar é constituída de nomes designando objetos, ligados uns aos outros como elos de uma cadeia. Essa possibilidade de vinculação, inscrita na própria natureza do objeto, faz com que o nome não designe um elemento autônomo, mas um elemento que se comporta como um ponto sempre prestes a se reunir a outro. Dêsse modo, os objetos designados pelos nomes possuem a mesma estrutura que a função proposicional no nível da linguagem; na proposição fa, f e a são igualmente incompletos. É por isso que os signos da expressão definidora designam além de suas partes copresentes, sendo essencial, na designação, a necessidade de o símbolo vincular-se a outro, o que é sistemàticamente ocultado pelo processo de notação.
4.003 — É preciso ter sempre presente que “absurdo” (unsinnig) está além de tôda figuração possível. É absurda, pois, a proposição que diz respeito à estrutura interna da própria figuração ou à natureza dos fatos como tais, porquanto, a figuração afigura a maneira de os objetos formarem os fatos, nunca revelando sua dimensão ontológica. É, porém, desprovida de sentido (sinnlos) tôda proposição que, fazendo parte do simbolismo, deixa de afigurar na medida em que não estabelece os limites necessários à constituição do sentido (cf. 4.461).
4.0031 — Mauthner, Fritz (1849-1923), crítico e filósofo alemão que trabalhou particularmente na filosofia da linguagem. Sob certos aspectos seu pensamento se aproxima do logicismo de Russell, mas sua crítica da linguagem se orienta no sentido de privilegiar a dimensão estética da palavra em detrimento da dimensão pròpriamente epistemológica.
4.022 (2) — E diz que isto está assim: “Und er sagt, dass es sich so verhält”; essa expressão liga-se inegàvelmente à forma geral da proposição: “Es verhält sich so und so” (cf. 4.5), que traduzimos por “isto está do seguinte modo”.
Devemos notar a referência à situação, ao conjunto de estados de coisas, tanto no sentido da expressão como no emprêgo do verbo sich verhalten.
4.0311 — Esta é a única ocasião em que Bild não pode ser traduzida por figuração, pois está a indicar um quadro formado por pessoas vivas, representando uma cena.
4.04 — Cf. Hertz, The Principles of Mechanics, trad. de D. E. Jones e J. T. Walley, Londres, Nova York, 1899. A filiação de certas idéias de Wittgenstein provenientes do físico Hertz foi estudada por James Griffin, Wittgenstein’s Logical Atomism, Oxford University Press, pp. 99 e segs. Hertz de fato considera a elaboração de uma teoria física como a construção de um modêlo da realidade que tenha com ela algo em comum, ambos possuindo a mesma multiplicidade, o mesmo número de coordenadas.
4.466 — Cada união arbitrária: “jede beliebige Verbindung”. O Prof. Andrés R. Raggio nos lembrou que “jede beliebige” é uma expressão freqüentemente usada na linguagem matemática para indicar “um qualquer”; e de fato, a distributividade de cada conferiria às várias uniões arbitrárias uma forma lógica que parece incompatível com o sentido do texto, em particular com o que segue no parágrafo posterior. No entanto, para não evitar outras interpretações possíveis, preferimos traduzir jede por cada e escrever esta nota.
5.2521 — Na notação de Frege, ξ indica uma variável em geral.
5.555 — O axioma da infinidade de Russell formula-se da seguinte maneira: se n fôr um número cardinal indutivo qualquer, existe ao menos uma classe de indivíduos que tem n elementos. Número cardinal indutivo é o número cardinal visto da óptica de sua geração a partir de certos axiomas, dentre os quais está o princípio de indução finita (se uma propriedade p pertence a zero e, pertencendo a n fôr possível demonstrar que pertence a n + 1, então p pertence a todos os números), princípio cuja função é garantir que, para todo o conjunto de números, um número e seu sucessor possam possuir certas propriedades em comum. Suponhamos um universo de apenas 9 indivíduos; como um número não pode ter mais de um sucessor, o sucessor de 9 seria 10, uma classe vazia, que por isso seria também igual ao sucessor de 10, também uma classe vazia. Para evitar êsse paradoxo é que surge o axioma da infinidade, garantindo a existência das classes correspondentes a cada número n. Isto pôsto, o número de objetos do mundo não é um número indutivo (cf. Russell, Introduction to Mathematical Philosophy, cap. XII).
